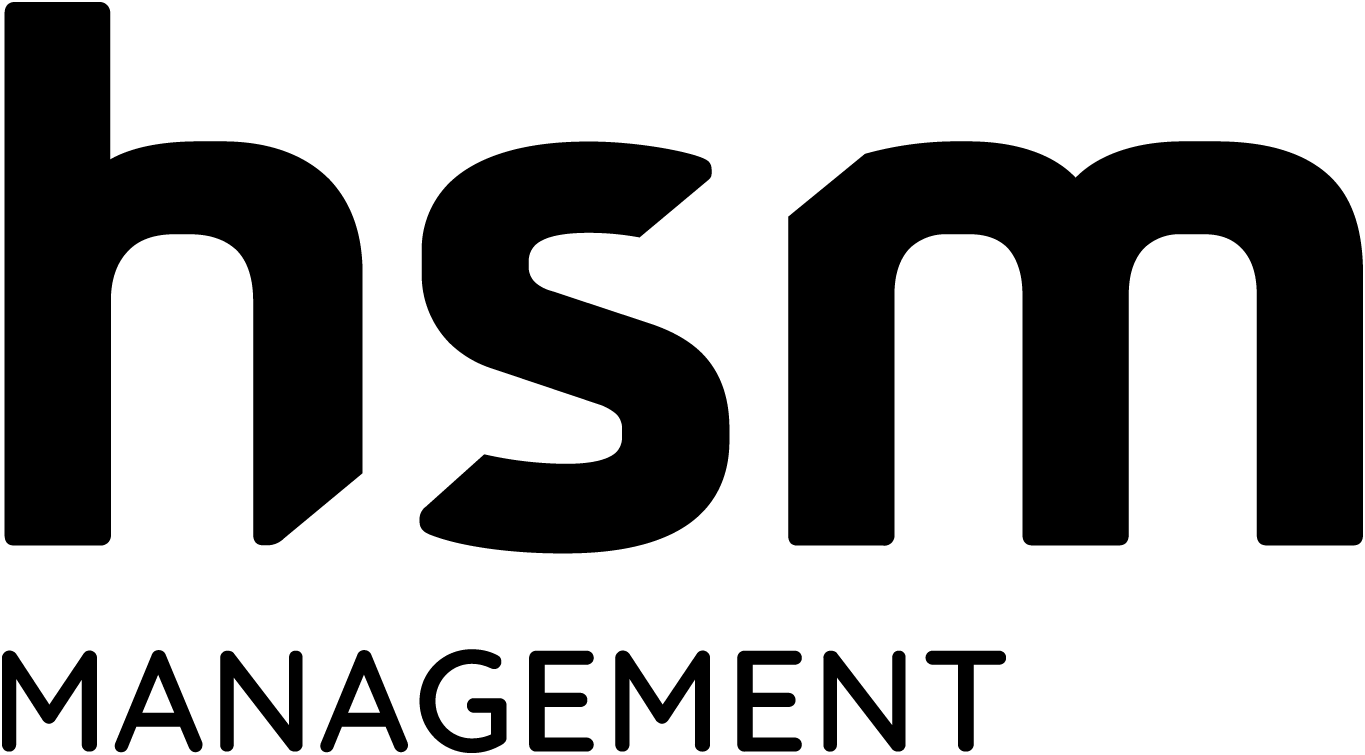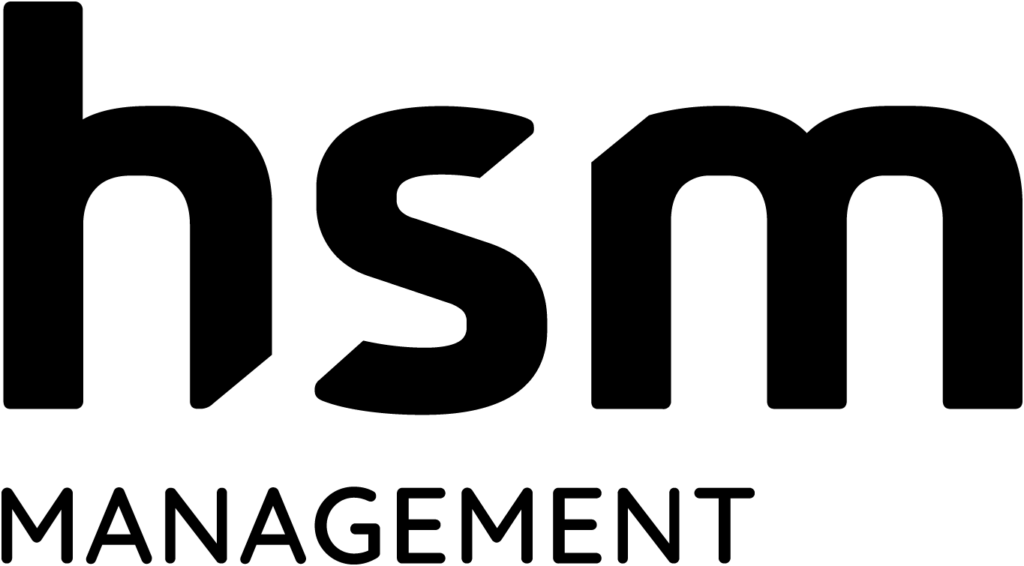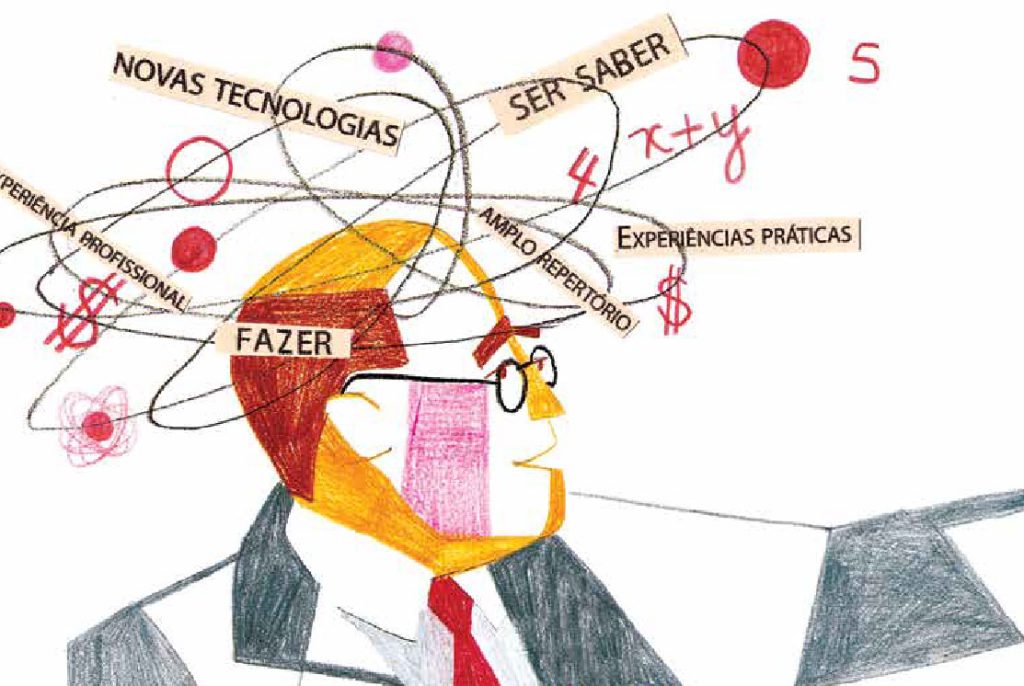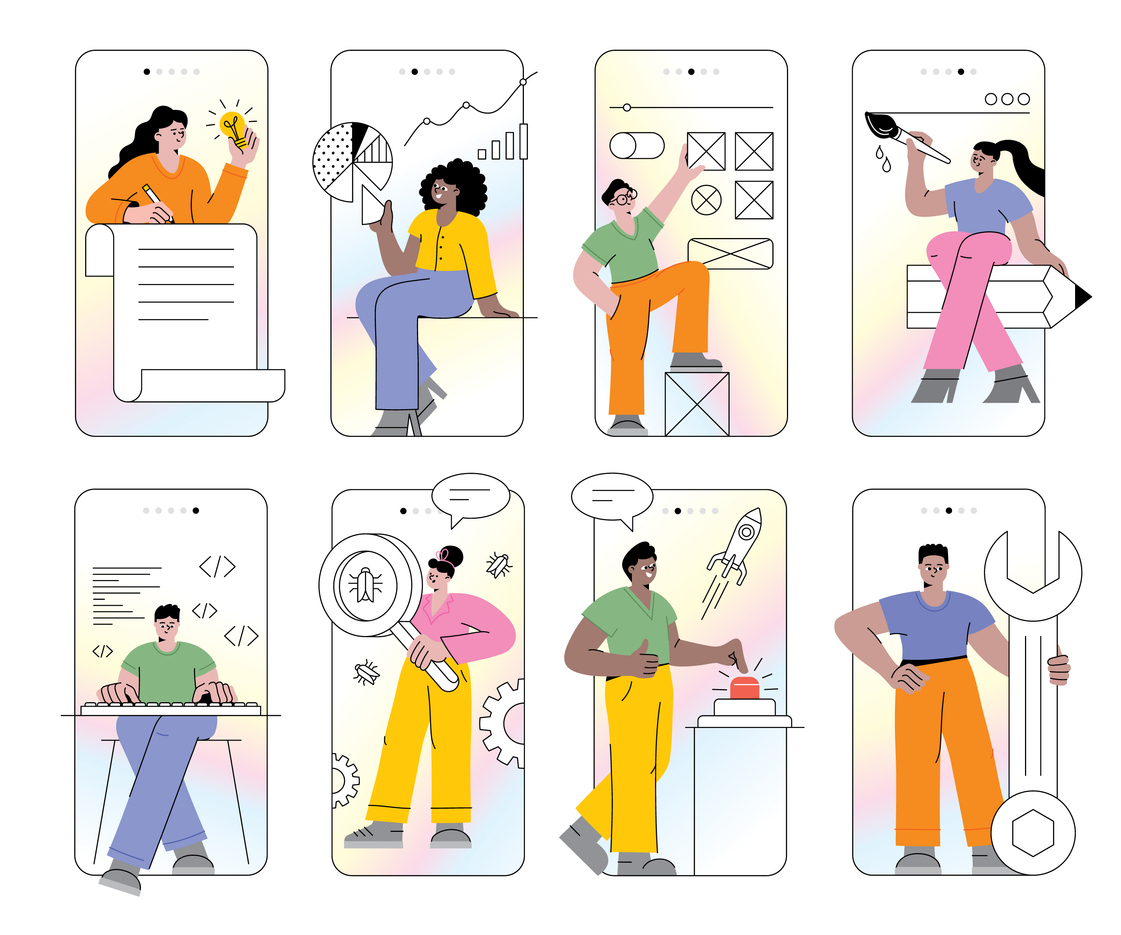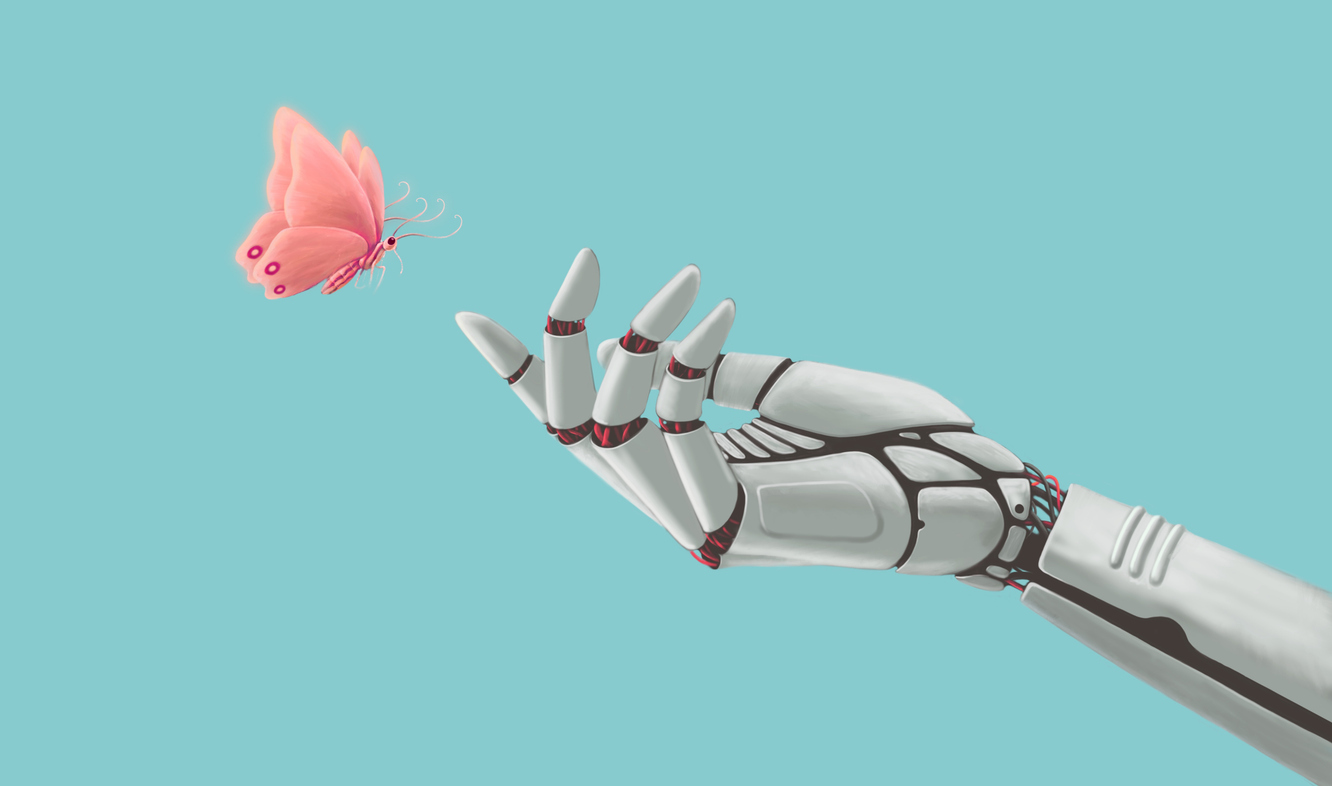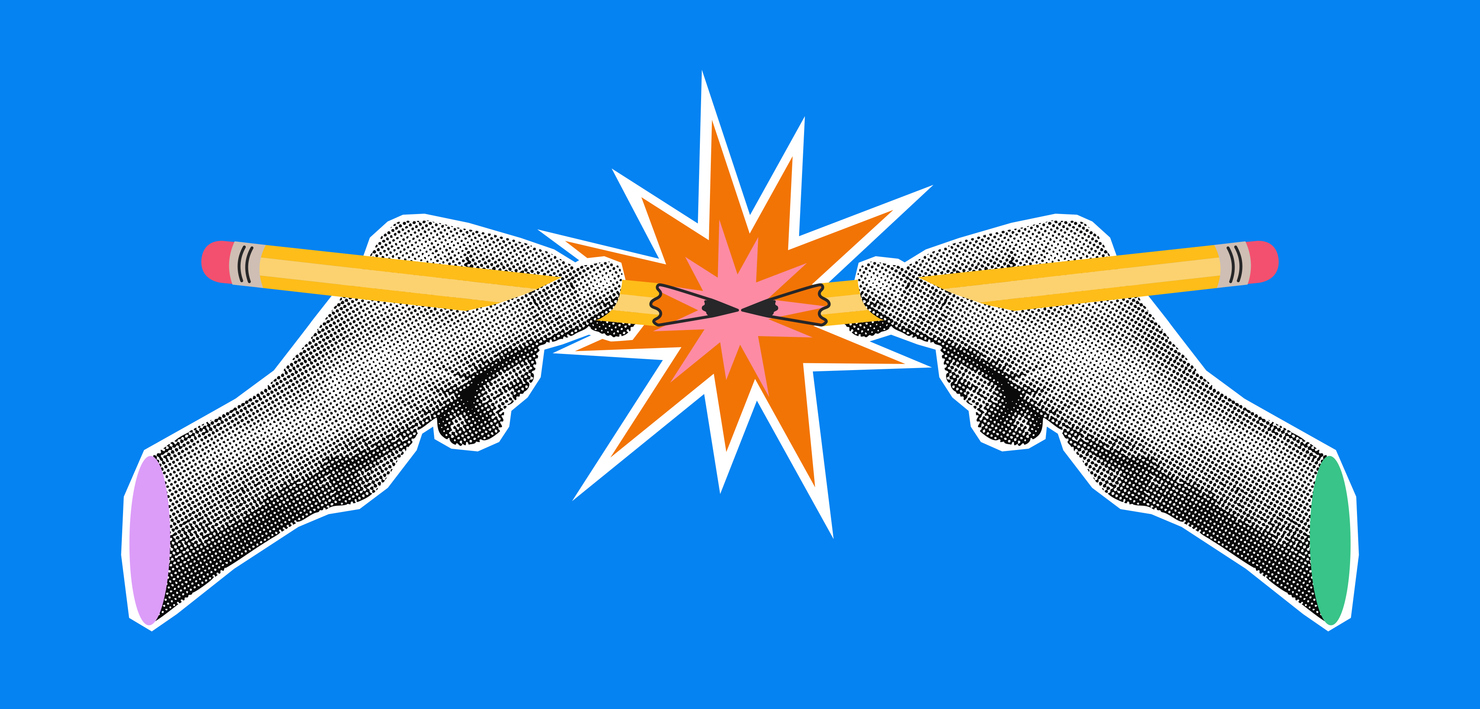Iniciei minha carreira de professor ainda na adolescência e a estrada da vida me brindou com as múltiplas curvas da profissão. A escolha não foi deliberada; jamais quis ser professor. Na década de 1980, os jornais noticiavam a penúria das condições de trabalho e os pífios salários dos professores brasileiros. Como todo adolescente de classe média do Brasil, ouvia os argumentos dos mais velhos a favor das carreiras tradicionais de direito, economia, engenharia e medicina.
Parecia que tinham uma receita de bolo para o sucesso futuro. Eu questionava: “Quer dizer que é importante ser médico, advogado ou engenheiro, mas não ser professor? Que país será este se a profissão de professor é considerada menor?”. Questões filosóficas à parte, encarei o desafio de ser professor de inglês e de música aos 16 anos de idade. Na verdade, queria conquistar alguma independência financeira. Nos primeiros anos, já me incomodavam o desconhecimento sobre didática e a escassez de bons materiais de estudo.
Estranhava conviver com tantos educadores sem vocação para sê-lo. Não demorou muito para eu entender que o desafio era mais de cunho metodológico e menos teórico. Não, leitor, não estou dizendo que a teoria não é importante. Não diria isso quando prego o evangelho de que “não há nada mais prático do que uma boa teoria”. Mas eu já percebia –ainda de maneira incipiente e desestruturada– que o desafio era propiciar aos alunos um ambiente de aprendizado mais engajador, estimulante e criativo, no qual eles também fossem protagonistas. Eu intuía que, para aprenderem de fato, eles precisavam construir a “experiência” de sala de aula em conjunto com o professor.
Em outras palavras, percebi que o “como ensinar” era tão ou mais importante do que “o que ensinar”. Ousei mesmo escrever um rascunho de um livro sobre teoria musical para “salvar” meus alunos da aridez didática dos livros disponíveis no Brasil. Fui fazer faculdade de administração e, tanto durante a graduação como no mestrado, fui professor dos ensinos fundamental e médio, de cursos pré-vestibulares, do ensino superior. Eu estava precisando complementar meu escasso orçamento doméstico quando a diretora de uma faculdade me perguntou à queima-roupa: “Você dá aulas de TGA (teoria geral da administração)?”. Detalhe: o ano letivo já avançava e os docentes não estavam recrutados.
Respondi com um necessitado, tremulante e talvez irresponsável “sim”. Em seguida me perguntei como sairia da enrascada. Pensei em assistir a aulas de outros professores e copiar o que eles eventualmente fizessem bem.
Pensei em rabiscar em um guardanapo uma lista do que não fazer, com base nos erros de meus professores da faculdade. Pensei em ouvir os alunos sobre o que eles queriam que eu fizesse (separando o trigo das questões relevantes do joio do chororô). Ao pôr tais ideias em prática, percebi o óbvio: as aulas eram, em sua maioria, expositivas. Eram raros os professores preocupados em construir uma ponte entre o que era necessário ensinar e o que seria prazeroso aprender.
Sobre a distância entre teoria e prática, então, nem preciso comentar. Quanto mais legitimidade em suas áreas de pesquisa os professores buscavam, mais longe ficavam da aplicação desejada pelos alunos –e futuros gestores. Estes diziam coisas como: “É interessante isso, mas quantas vezes você já o aplicou com resultados minimamente satisfatórios?”. Fui evoluindo como professor, agora de um curso de graduação em administração, levando todas essas percepções em conta, até o dia em que fui embrulhado. “O correr da vida embrulha tudo”, como já disse Guimarães Rosa. Minha carreira desembocou em uma escola de negócios.
**O CONFLITO**
Não demorou muito para eu descobrir que havia conflito entre o academicismo da formação dos professores da escola e a natureza orientada para a resolução de problemas dos gestores que a cursavam. Isso criava tensão, muitas vezes mal resolvida; sentia-se a insatisfação, e ela existia nos dois lados. Jamais me arrependi das incontáveis horas que dediquei a questões relevantes da sociologia das organizações e das teorias da firma ou à investigação científica. Foram fundamentais para meu repertório e para uma visão muito mais crítica e sistêmica das empresas.
Contudo, frente a frente com gestores de organizações de classe mundial, eu percebia claramente a frágil conexão entre o mundo acadêmico e o mundo empresarial, e me sentia desconfortável. Hoje meu desconforto passou. Entendo que a administração é uma ciência social, só que aplicada. Assim, exige de seus praticantes o questionamento da sabedoria convencional e, especialmente, o questionamento da mistura de meias verdades com conveniência. Em outras palavras, a lógica “imperialista” do PowerPoint, que tudo aceita, tem de ser constantemente questionada pelos executivos. Eles precisam, de fato, estudar. Agora me pergunto o que os gestores realmente desprezam na educação que recebem: o academicismo ou as teorias que podem modificar suas práticas?
Eu me questiono também: de que maneira eles aprendem habilidades como liderança, criatividade, globalização, poder, política e implementação? E pergunto ao leitor, finalmente: o que a educação executiva não é? E o que ela deveria ser?
**SABER-FAZER-SER**
Já há algum tempo me debruço sobre essas duas perguntas, visando a completude do processo de ensino e aprendizado, e talvez eu esteja apenas começando a responder a elas. Faço isso com base em experiências na Europa, América do Norte, Ásia e África, atuando como professor e como consultor, participando de colóquios e seminários como o MBA Roundtable, na Darden School of Business, da University of Virginia, e o Global Colloquium on Participant-Centered Learning, na Harvard Business School. Faço-o também com o auxílio luxuoso de especialistas citados neste Dossiê, como Henry Mintzberg (McGill University) e David Garvin (Harvard Business School), este em coautoria com Srikant Datar e Patrick Cullen, entre outros. Gosto quando Mintzberg é categórico ao afirmar que “as escolas de negócios treinam as pessoas erradas, de formas equivocadas e com consequências indesejadas”. Para ele, “o gerenciamento é uma prática que deve mesclar uma boa quantidade de habilidade (experiência) com alguma quantidade de arte (insight) e alguma ciência (análise)”. O cerne das críticas de Mintzberg aos programas de MBA refere-se ao recrutamento de jovens ou gestores com nenhuma ou pouca experiência gerencial (as pessoas erradas), para quem se enfatizam a análise e a técnica como substitutas quase perfeitas da falta de experiência (formas equivocadas) e que assim são levados a tomar decisões que prejudicam a própria prática gerencial, as organizações e as instituições sociais (consequências indesejadas). Gosto quando Garvin, com Datar e Cullen, expõe os problemas recorrentes do que eles chamam de “encruzilhada” da educação executiva atual:
1. o choque das duas culturas de legitimidade e aplicação –quanto mais legitimidade se busca na produção científica da administração, maior o distanciamento da aplicação tão demandada pelos gestores e vice-versa;
2. o declínio do envolvimento dos participantes/alunos, mais preocupados com o networking e atividades sociais e menos envolvidos com o processo de aprendizado;
3. o desequilíbrio na composição do corpo de professores (acadêmicos versus profissionais de mercado); e
4. o domínio (quase) absoluto de aulas unicamente expositivas, em detrimento das possibilidades do guarda-chuva denominado aprendizado centrado no participante. Garvin reconhece avanços na educação executiva após a crise de 2008, mas aponta inação em tópicos como comunicação, criatividade, inovação e habilidades de implementação, entre outros.
De fato, a natureza do trabalho gerencial envolve papéis distintos e imbricados que são ao mesmo tempo interpessoais, informacionais e decisórios. Simplesmente falar com participantes de programas de educação executiva sobre esses papéis causa pouco ou nenhum impacto em suas rotinas e vidas profissionais. A fala dificilmente leva à mudança de comportamentos, como aprendi nesses longos anos de estrada (e em suas curvas).
Em minha concepção filosófica, cuja gênese estou revelando neste artigo, a experiência é uma das formas mais interessantes de promover mudanças de comportamento nos participantes. Se eu estiver certo, isso exige que se planeje a educação executiva de um modo completamente diferente do que a maioria faz hoje, migrando do foco no “saber” para o tríplice foco no “saber-fazer-ser”, como propõem Datar, Garvin e Cullen. Eu o explico:
**• Saber.** Refere-se a conceitos, teorias, modelos e estilos de pensamento que integram o repertório de uma profissão ou prática e são ensinados em um curso.
**• Fazer.** Reúne as capacidades e técnicas que possibilitam envolver os participantes de um curso em atividades de execução/prática com vistas a desenvolver algo que se leve para a vida pessoal e profissional no dia seguinte, como um processo, protótipo, serviço, produto ou uma nova perspectiva para atender os clientes de uma empresa, dentre outros.
**• Ser.** Leva os envolvidos em um curso a refletir sobre os compromissos e propósitos que constituem seu caráter, além de sua identidade, seus valores e sua visão de mundo.
> **O “SER”**
>
> No âmbito do “ser”, quando questionam as próprias visões, os gestores entendem que um problema de inovação ou marketing dificilmente é só um problema de inovação ou marketing; envolve dilemas de estratégia, comportamento humano em organizações e gestão do capital intelectual
**EXEMPLO MAIS PRÁTICO**
Não entendeu? Suponha que eu esteja discutindo com os participantes de um programa executivo a delicada relação entre estratégia e estrutura. Como se daria isso nos campos do saber, fazer e ser?
**• Saber.** Isso envolveria teorias sobre as diversas escolas de estratégia (estratégia como posicionamento ou como aprendizado) e conceitos e tipologias de estrutura organizacional (divisão do trabalho versus coordenação, estruturas funcionais, divisionais, matriciais e redes).
**• Fazer.** Os participantes teriam de defender propostas de mudança em frente a um conselho de administração fictício. O professor apresenta (eu já fiz isso) uma empresa de telecomunicações do Japão que é líder de mercado e, operacionalmente, uma máquina de desempenho. O setor é desregulamentado e, com a entrada de novos concorrentes, há guerra de preços e a empresa começa a padecer de lucros decrescentes. Sua direção decide buscar novas frentes de crescimento e lucratividade pela inovação, enfrentando os entraves de uma cultura organizacional com pouca flexibilidade em processos, em alocação de recursos e em valores usados para a tomada de decisões.
Os participantes têm de “calçar os sapatos” do CEO da empresa e defender suas propostas perante o conselho de administração: ou a alteração da estrutura organizacional presente ou a introdução de uma nova estrutura à parte para perseguir a nova estratégia de crescimento pela inovação. Assim se promove o encontro entre os conceitos e sua aplicação, entre o saber e o fazer.
**• Ser.** O método socrático, das perguntas, é extremamente útil para o autoconhecimento. Quando os participantes são levados a questionar suas verdades e visões de mundo é que eles aprendem, por exemplo, que um problema de inovação ou marketing dificilmente é apenas um problema de inovação ou marketing; envolve dilemas de estratégia, comportamento humano em organizações e gestão do capital intelectual, para dizer o mínimo. Com esse exercício de autoconhecimento, os participantes tornam-se capazes de compreender sua dificuldade de visão sistêmica ou de reconhecer sua dificuldade de ação em questões concernentes à cultura organizacional.
**EDUCAÇÃO IDEAL**
Compartilhei aqui minha trajetória de professor para mostrar como cheguei à conclusão de que é preciso trabalhar com o tripé saber-fazer-ser quando se busca a completude do processo ensino-aprendizado. Agora imagine uma escola de negócios ou um provedor de educação executiva que:
1. agregue conteúdo de vanguarda estimulando uma dinâmica conversacional sem fronteiras;
2. fomente relacionamentos, conexões, insights e inspiração com quem de melhor exista no Brasil e no mundo; e
3. propicie a experiência transformadora de ambientes híbridos de aprendizado com protagonismo.
Falo de um espaço dos sonhos, que pode ser físico, mental ou virtual, e muito possivelmente será um conjunto dos três. Falo de um lócus integrador que seja, ao mesmo tempo, uma incubadora de ideias, uma aceleradora de negócios e um espaço de aprendizado individual e coletivo. Falo de uma organização que jamais perderá de vista os valores transcendentais da ética, da sustentabilidade e da construção de um mundo melhor. É disso que precisamos. Porque precisamos, urgentemente, resgatar as humanidades na educação de nossos executivos e empresários.