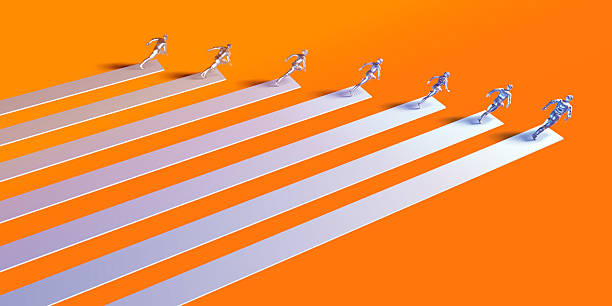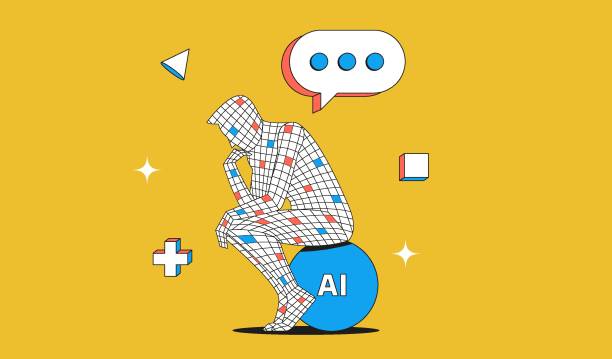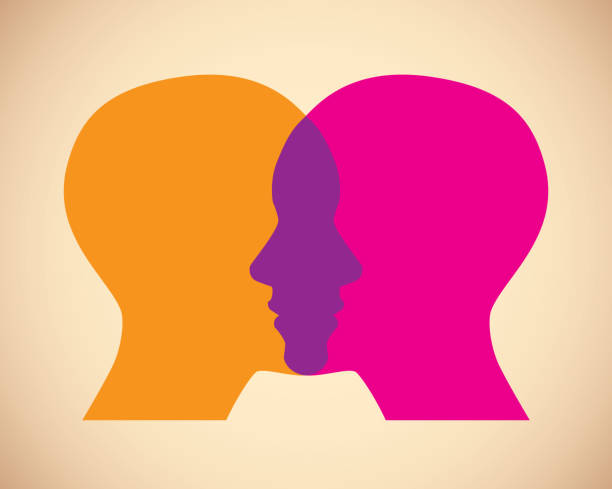Durante a pandemia, a mobilização das comunidades em todo o Brasil foi fundamental para garantir o sustento e a saúde de milhões de pessoas, que se viram obrigadas a agir diante da inação ou da falta de alcance do poder público. De acordo com os institutos Locomotiva e Data Favela, mais de 13,6 milhões de brasileiros moram em favelas. Em tempos normais, essa população já sofre com a falta de assistência do Estado, e com dificuldades econômicas e sociais. O novo coronavírus agravou um cenário que já era difícil, obrigando milhares de negócios a fechar as portas ao limitar a circulação de pessoas e desacelerar a economia.
Uma pesquisa da Rede de Pesquisa Solidária mensurou alguns desses impactos. A crise econômica afetou diretamente a renda das famílias que moram em favelas e periferias brasileiras. Milhões de vagas de emprego formal foram perdidas, e a renda dos autônomos também sofreu com a retração geral, uma vez que foram os primeiros a sofrer cortes. Nas comunidades, grande parte da população sobrevive justamente na informalidade. O auxílio emergencial foi importante, mas nem todos conseguiram desfrutar da ajuda. Cerca de 30% dos moradores desses territórios tiveram problemas ao fazer o cadastro e sacar o benefício.
Além disso, a fome foi identificada como um problema em 68% das comunidades pesquisadas pela rede. Vendo sua renda diminuir, as famílias perderam a capacidade de comprar os insumos mais básicos para sua sobrevivência. Mesmo com o registro de enormes quantidades de doações de empresas privadas, a distribuição dos recursos é sempre irregular.
Tal cenário também dificulta para os moradores desses locais manter distanciamento social. Vendo-se sem fonte de renda, essas pessoas são obrigadas a procurar maneiras de sobreviver. Mesmo os que têm emprego não têm a opção de trabalhar de casa. Grande parte dos trabalhadores está no setor de serviços, em funções que não permitem o trabalho remoto. Por isso, estão mais sujeitos à contaminação pelo novo coronavírus. A renda limitada também torna inacessíveis produtos como máscaras, álcool em gel e outros utensílios necessários para evitar a contaminação.
Em muitas dessas comunidades, não há condições básicas de saneamento e higiene, como, por exemplo, acesso à água limpa. A oferta de serviços de saúde é tão escassa que, em alguns casos, as favelas precisam cuidar de si próprias. Em Paraisópolis, segunda maior comunidade da cidade de São Paulo, há um serviço interno de ambulância, porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não costuma se aventurar por ali.
Por isso, quem convive com as periferias e favelas brasileiras já conhece de perto a fragilidade que atinge esses territórios. Assim que ficou claro que a Covid-19 era assunto sério e iria paralisar o mundo, líderes comunitários e outros atores começaram a se movimentar para apoiar as milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.
Conversamos com três lideranças que viveram e vivem de perto o impacto da pandemia entre a população mais pobre. Cada um encontrou uma maneira de agir, sempre baseada em anos de conhecimento de causa e uma vontade irrefreável de ser mais do que um espectador.
As histórias de Preto Zezé, Elizandra Cerqueira e Marcus Vinícius Massarenti mostram que, mesmo numa situação nova, difícil e assustadora, é possível aprender. Todos usaram o que já sabiam de suas comunidades para, rapidamente, reinventar as instituições e agir no sentido de ampará-las.
Além disso, foi necessário mobilizar recursos tangíveis e intangíveis para equipar os projetos, capacitar o pessoal e mobilizar todas as frentes necessárias. Houve a preocupação de não apenas distribuir doações, comida e outros produtos, mas também de fortalecer as comunidades economicamente, gerando renda e negócios internamente.
Não só vidas foram poupadas, como novas frentes de ação se tornaram novos negócios, com uma gestão mais avançada e embasada em dados, informações e análise.
Conheça a seguir as histórias de três pessoas que transformaram os obstáculos da pandemia em aprendizado. Suas histórias também ensinam as empresas a enfrentar as mudanças.
## Logística e inclusão digital
Conheça a seguir as histórias de três pessoas que transformaram os obstáculos da pandemia em aprendizado. Suas histórias também ensinam as empresas a enfrentar as mudanças.
Central Única das Favelas (Cufa) existe há mais de 20 anos. Criada no Rio de Janeiro por Celso Athayde, a organização nasceu para “fazer algo para a gente ficar um pouco feliz na favela”, explica Preto Zezé, presidente da Cufa Global. Presente em 26 estados brasileiros além do Distrito Federal, e em países como Bolívia, Alemanha, Chile, Hungria, Itália e Estados Unidos, a Cufa é um polo de produção cultural e prática desportiva, que também oferece cursos e oficinas de DJ, gastronomia, audiovisual, teatro, produção cultural e ações nos campos da educação, esporte, cultura e cidadania, com mão de obra própria.
O trabalho foi evoluindo e a organização passou a “trabalhar com formação de lideranças e construção de agenda positiva nesses territórios que, na maior parte das vezes, só são lembrados como espaços de tragédia”, diz Zezé. “Também começamos a trabalhar em uma agenda pública para pautar empresas e governos. Sempre procuramos nos centrar em soluções.”
Com a chegada da pandemia, a Cufa precisou ampliar suas competências. “Tivemos que fazer o que as empresas chamam de ‘reconversão da matriz produtiva’. No nosso caso, foi uma reconversão da matriz de atuação”, afirma Zezé.
Agir era urgente. “Embora o vírus seja democrático no seu contágio, na tempestade em que vivemos o afogamento é seletivo por uma série de questões. Tínhamos gente morrendo sem qualquer atendimento.”
Pela primeira vez, a central fez ações para “solicitar dinheiro, comida, material”, explica, “porque a pandemia nos obrigou”. O novo olhar começou dentro da própria organização. “A gente foi obrigado a rever uma série de coisas. Por exemplo, afastar muita gente nossa que é do público vulnerável.” O dinheiro que a organização tinha em caixa foi direcionado a essas pessoas, para mantê-las em casa por três meses.
Num primeiro momento, a prioridade era lidar com as emergências. “Começamos a estabelecer três ações importantes”, diz Zezé: “Alimentos, material de higiene e limpeza e recursos financeiros”. As primeiras cestas básicas distribuídas foram reaproveitadas: eram inicialmente destinadas aos alunos dos cursos da Cufa. Uma vez que a pandemia obrigou o cancelamento das turmas, seguiram para as pessoas das comunidades.
“Começamos uma campanha de mobilização na mídia para chamar a atenção sobre o quanto era importante colaborar com as pessoas na favela”, relata. “Como as pessoas iriam manter o isolamento e pagar as contas? A situação da favela era mais grave, já que parte das pessoas não tinha como manter isolamento porque era quem mantinha os serviços essenciais: o cara que limpa a rua, o frentista do posto de gasolina, a menina do supermercado, a massa trabalhadora dos hospitais. Essas pessoas não tiveram o direito de ficar em casa.”
### Métricas e informações
Para entender em mais detalhes os impactos e os desafios específicos da pandemia nas favelas, a Cufa fez diversas pesquisas com seu Instituto Data Favela e em parceria com o Instituto Locomotiva. Os dados mostraram que “45% das pessoas não tinham nem água nem sabão regularmente”. “Fora isso, estava acontecendo uma campanha de desinformação tremenda, confrontos entre prefeitos e governadores, o governo federal, uma falta total de coordenação de um projeto nacional [para lidar com a pandemia]. Isso gerou o que estamos vendo.”
Passado o susto inicial, a Cufa criou a campanha Mães da Favela. “As mais sacrificadas”, explica Zezé, “são as mulheres”. “A gente começou a operar articulando mais de 5 mil favelas. Estamos concluindo entregas de chips para as mães terem acesso à internet.” Por conta das novas necessidades, a estrutura que a Cufa já tinha “acabou virando um centro de distribuição e logística”. “Nossa sede virou isso: tem cesta básica, álcool em gel, máscara, parece um centro de apoio na guerra.”
O momento de crise nacional e mundial serviu para impulsionar outras iniciativas. “No meio da pandemia, lançamos uma empresa chamada Digital Favela”, conta Zezé. A ideia, explica ele, é oferecer uma plataforma para que empresas e as marcas se comuniquem e gerem negócios diretamente com os influenciadores da favela. “Hoje”, diz, “as empresas pegam um grande artista, dão seus milhões de reais para que ele dialogue com a favela”. “A Digital Favela é um cadastro de milhares de pessoas nas favelas que têm seus 500, 600, 800 mil seguidores, reais, originais, oficiais, com audiência fiel. Agora a marca dialoga diretamente com quem está no território, sem atravessador.”
Zezé afirma que o novo projeto nasceu de um “aprendizado de uma perspectiva que não é só econômica”. “É uma visão política”, defende. “Estou deslocando o centro de poder de decisão daquele agente externo para que a empresa dialogue diretamente com a favela, suas referências e suas influências.” Segundo a Cufa, mais de 10 mil pessoas já estão cadastradas no Digital Favela.
O que fez a diferença para que a organização tivesse agilidade e capilaridade foi a presença forte que a Cufa já tinha nas favelas. Embora tenha sido um (enorme) imprevisto, a pandemia “apenas acelerou os nossos processos”, afirma Preto Zezé. “Tivemos que desenvolver essa engenharia de distribuição, de logística, para poder atender quem precisava desesperadamente de ajuda, e conectar essas pessoas a grandes empresas, grandes players que queriam fazer ações em escala com eficiência em curto prazo”, afirma.
“Hoje tudo o que fazemos é gigantesco. Fomos distribuir chips [de celular], começamos com 150 mil, hoje já estamos com meio milhão distribuídos. Tudo nosso agora virou grande escala. Teremos 2,5 milhões de pessoas conectadas nas favelas. Não existe no Brasil um projeto de conectividade deste tamanho.”
### Lições aprendidas
Agora é hora de transformar as lições em aprendizados duradouros. “Estamos fazendo um recenseamento interno [da Cufa] gigantesco, com uma dessas grandes empresas que apareceram, para sistematizar, diagnosticar e criar um organograma para a gente saber que tamanho temos.” Por conta da atuação intensa durante a pandemia, a organização cresceu. “Somos uma central de realização, de soluções. Nunca tínhamos pensado nessa coisa da gestão. Agora, isso tem que melhorar. Quando você fica grande, você ganha responsabilidades.”
“Nossa intuição é muito boa: 95% da propostas se cumprem. Mas é difícil prever as coisas em longo prazo. Na medida do possível, estamos bem. Estamos montando uma empresa de telefonia celular, ampliando nossos núcleos no Brasil, aproximando as empresas para desenvolver uma diversidade de negócios dentro das favelas. Não posso esperar a pandemia passar para fazer uma retomada [econômica]. Tenho que fazer isso durante a pandemia, não podemos nos dar a esse luxo.”
## Distribuição em grande escala
Moradora da favela de Paraisópolis, em São Paulo, Elizandra Cerqueira é dona de um negócio social chamado Mãos de Maria. Ali, mulheres em situação de vulnerabilidade social e doméstica recebem capacitação profissional para atuar na área da alimentação.
Por conta da pandemia, o espaço de trabalho que elas mantêm teve de ser fechado. Repentinamente, o faturamento cessou e, com ele, a remuneração e a capacitação das participantes. “Muitas mulheres da comunidade estavam pedindo ajuda, porque tinham perdido o emprego”, diz Cerqueira. “Grande parte trabalha aqui no entorno como diarista, cozinheira, babá, doméstica. Teve gente que começou a mandar foto da geladeira vazia, sem nada para comer.”
“Não tinha muito o que fazer: ou a gente ia para a linha de frente e agia rápido, ou a situação seria pior. O desemprego explodiu de repente. A grande maioria da população [de Paraisópolis] é prestadora de serviços, não tem a possibilidade de home office. A maior parte é composta de mulheres. Fizemos uma mobilização entre amigos e parceiros, acionamos empresários, para que a gente pudesse fazer a distribuição de marmitas durante a pandemia.”
A operação começou com a entrega de 500 marmitas por dia. Mas o número começou a crescer rapidamente. Nos dois primeiros meses, “chegamos a distribuir 10 mil marmitas por dia”, afirma Cerqueira. “Hoje, estamos distribuindo
5 mil marmitas por dia. Entre 23 de março e 16 de outubro, a gente distribuiu na comunidade 1 milhão de marmitas.”
O motivo da capacidade de produzir tantas marmitas em tão pouco tempo, explica Elizandra Cerqueira, vem da necessidade diária de conseguir recursos para sobreviver. “Nas comunidades, a gente enfrenta vários problemas diariamente. Coisas que, para alguns, são simples, para nós não são. Temos essa característica de sempre reinventar, criar alternativas para que a gente possa prestar um serviço ou consumir um produto. A gente precisava reagir rápido. Fizemos um levantamento do que precisávamos, de estrutura, dos recursos que precisávamos levantar e de todos os custos.”
Outro insight foi a articulação da produção de marmitas com o comércio local, que, segundo Cerqueira, “emprega 20% da nossa população”. “Precisamos ajudar porque se ele quebrar, são mais pessoas quebradas na comunidade. E, diferente das grandes empresas, o comerciante local só tem o cliente da comunidade. Então, fizemos um trabalho de conscientização. Os recursos que a gente levantou para fazer a marmita, compramos no comércio local. Foi uma forma de apoiar.”
O Mãos de Maria apoiou dez restaurantes da comunidade comandados por mulheres. Durante um mês, o projeto comprou marmitas dos estabelecimentos. “Tivemos esse olhar e esse cuidado para um apoiar o outro e assim superar a crise gerada pela pandemia.”
Para continuar a capacitar as mulheres da comunidade, o projeto selecionou 55 mulheres, que foram entrevistadas por videoconferência. “Todas elas ganharam uma cozinha, dada por nós: fogão, geladeira, panelas, para que a gente pudesse ampliar a nossa capacidade de produção. Todos os dias, essas mulheres entregam 550 marmitas, que nós distribuímos na nossa operação diária.”
Como foi possível colocar essa operação em pé em tão pouco tempo? “O fator fundamental foi a gente ter sido muito realista”, explica Cerqueira. “A gente não se colocou como vítima, botamos a cara no sol e fomos atrás de ajuda.”
A distribuição de marmitas faz parte de uma ação maior, coordenada pelo G10 das Favelas, grupo que reúne as maiores comunidades do Brasil para fomentar o empreendedorismo na periferia e desenvolver comunidades e projetos sociais. Além de comida, foram distribuídas máscaras, álcool em gel e outros produtos de higiene.
Na favela de Paraisópolis já existia uma estrutura de governança interna que facilitou o auxílio das famílias. Cada rua, explica Elizandra Cerqueira, tem um presidente, mulheres em sua maior parte. Essas pessoas são responsáveis por acompanhar 50 famílias. “Temos pouco mais de 600 presidentes de rua. São eles que acionam nossa ambulância. Temos um serviço particular disponível para a comunidade porque temos problema com o SAMU, que não entra em Paraisópolis. Por meio dos presidentes de rua entregamos as marmitas nas casas das pessoas que não podem ir para a fila, distribuímos as cestas básicas e os kits de higiene, máscaras.”
Essa capilarização é uma solução frequente em comunidades, e é o princípio, por exemplo, do Programa Saúde da Família, do SUS, em que mulheres da própria comunidade trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como agentes comunitárias de saúde, e visitam mensalmente uma quantidade predeterminada de casas. Foi com medidas preventivas e pontuais como essa que o Brasil reduziu drasticamente a mortalidade materna desde a criação do SUS, em 1988.
## Ciclo virtuoso do negócio social
O trabalho social de Marcus Vinícius Massarenti começou em 2010, com uma ONG, chamada Um Novo Tempo, “que dava aula de balé e futebol para uma molecada em situação de rua no centro de São Paulo”. O projeto atendia cerca de 200 crianças por fim de semana.
“Eu mais três amigos estávamos colocando recursos do nosso bolso”, relata. “Foi aí que a gente entendeu que a maior dor de ONGs e projetos sociais é a arrecadação, porque elas não podem ter lucros e dependem quase 100% de doações.” Massarenti estima que “de 60% a 80% do tempo de uma ONG hoje é gasto com busca de recursos”. Sobram poucos momentos, portanto, para de fato se dedicar aos projetos.
Uma nova ideia de negócio social surgiu quando ele e seus amigos resolveram fazer hambúrgueres para ajudar a igreja que frequentam a arrecadar fundos. Nasceu o Holy Burger, lanchonete que ganhou fama em São Paulo. “Nosso foco”, afirma, “era gerar recursos para nossos projetos, mas o negócio tomou uma proporção muito grande. Um restaurante de 24 lugares começou a atender quase 9 mil pessoas. A gente não esperava tanto sucesso.” O trio expandiu o negócio inaugurando um delivery em 2015 e, dois anos depois, uma pizzaria e sanduicheria chamada Fôrno.
Massarenti continuou interessado no ativismo social e fez diversas viagens pelo Brasil para entender melhor os desafios da população. “Na Amazônia, existem mais de 6 mil comunidades ribeirinhas que não são atendidas pelo governo. Demoramos 18 horas de barco para chegar à primeira comunidade. Foi ali que eu tive um baque com a realidade do povo brasileiro. Comecei a entender que as pessoas não padecem de falta de oportunidade. Existem várias oportunidades de negócio, de conexão, de criar produtos e soluções. O problema é a falta de conhecimento.”
Em 2018, decidiu deixar a sociedade nos restaurantes. “Eu queria criar alguma coisa para que as minhas empresas pudessem gerar conhecimento para as pessoas, para elas entenderem que já têm tudo de que precisam, só não sabem que têm.” Assim nasceu o Movimento Happiness, também uma hamburgueria. Mas, dessa vez, um dos propósitos do negócio é alimentar a fome de aprender de comunidades desfavorecidas.
O primeiro restaurante da nova empreitada veio em 2019, na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. “Dez por cento do faturamento da nossa loja é destinado a potencializar projetos sociais das comunidades onde estamos inseridos. Na Mooca, potencializamos um projeto chamado Lar da Redenção, que cuida de pessoas com necessidades especiais, que foram abusadas e maltratadas fisicamente pelos próprios familiares e resgatadas pelo Conselho Tutelar. Hoje, são 14 pessoas de 9 a 63 anos, que não podem ser adotadas nem voltar para a sociedade.”
Com o sucesso do novo negócio, veio uma oferta. “Em setembro de 2019, recebi a proposta de um investidor de comprar 40% do Movimento Happiness por uma cifra milionária.” Massarenti decidiu não aceitar, porque o investidor “estava focado no negócio, não estava preocupado com os projetos sociais”. Pouco depois, em dezembro daquele ano, “entrou um novo investidor, que tinha como foco ampliar o movimento para impactar mais pessoas”, diz. Isso lhe deu a possibilidade de começar a expansão da nova iniciativa. “Em março de 2020, fundamos a primeira unidade na favela do Heliópolis. Uma semana depois, veio a pandemia e fechou nossos salões.”
Mesmo assim, Massarenti continuou a frequentar a comunidade para ver de perto o impacto da pandemia. “Vi que a realidade começou a ficar maluca. O pessoal recebia cesta básica, mas não tinha dinheiro para o gás, não tinha pão, queijo, carne.
A criminalidade estava começando a voltar.”
Esse foi o impulso para que o Movimento Happiness decidisse criar o programa Semeando, em Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Quatrocentas famílias receberam o chamado “Happy Voucher”, uma ajuda de R$ 100 mensais para serem consumidos nos supermercados locais, “para que a economia girasse dentro da favela”, explica Massarenti.
Para receber o auxílio, o movimento pediu que a pessoa respondesse a um questionário. O objetivo, explica o empresário, era saber qual era “o sonho de empreendimento” da comunidade. “Agora, a gente vai implantar um EAD com parceiros de conteúdo para capacitar as pessoas e gerar empregos.” Quem não consegue colocação recebe apoio para empreender. Outra iniciativa é a instalação de uma escola de tecnologia para crianças entre 6 e 16 anos.
E como uma empresa consegue entrar na comunidade? Massarenti diz que essa é uma dúvida comum. O primeiro passo é procurar uma organização que já trabalhe lá dentro. “Me apresento, pergunto quais são as dores daquela ONG, dos projetos. Digo que não estou ali para dizer o que é verdade, mas para potencializar o que eles já fazem.”
Para o empresário, trata-se de oferecer não só dinheiro, “mas networking, gestão, administração, governança, metas, para que o projeto cresça e possa impactar cada vez mais pessoas”. “Quando fazemos isso, os próprios líderes das comunidades vão falando para as pessoas. Uma empresa como a nossa, que entra na favela, abre um negócio, contrata funcionários CLT, dá educação financeira, benefício. E as pessoas não precisam pegar condução por três, quatro horas, ir trabalhar no centro de São Paulo. Isso devolve o tempo para as famílias. A comunidade abraça de uma maneira incrível.”