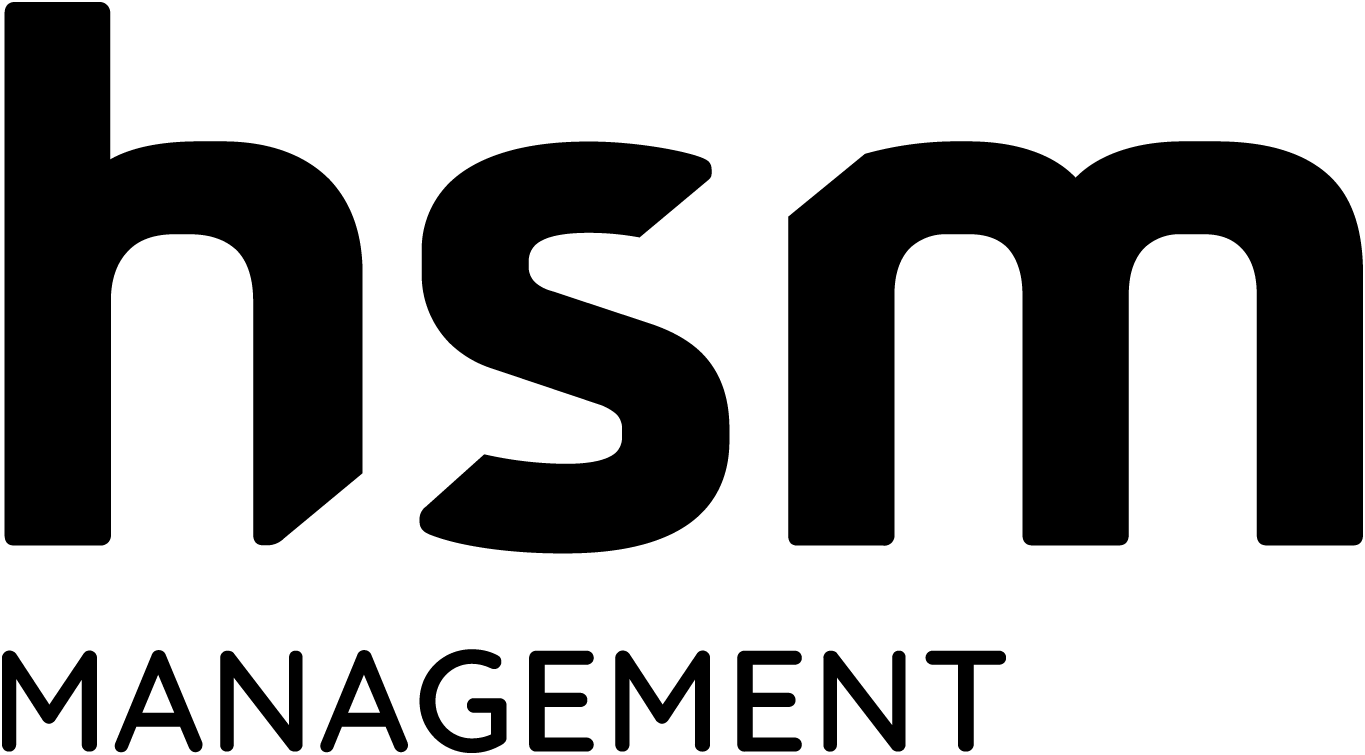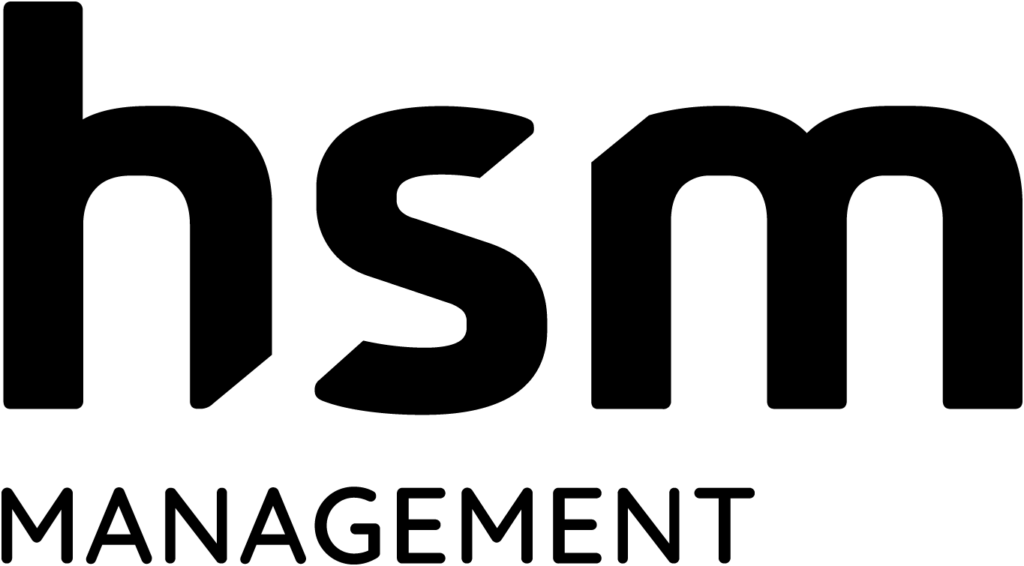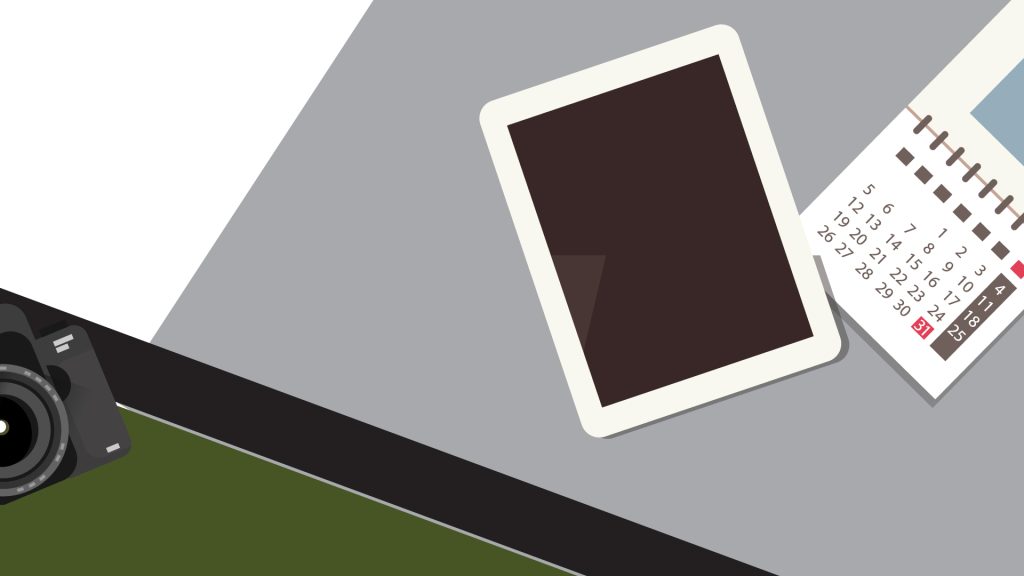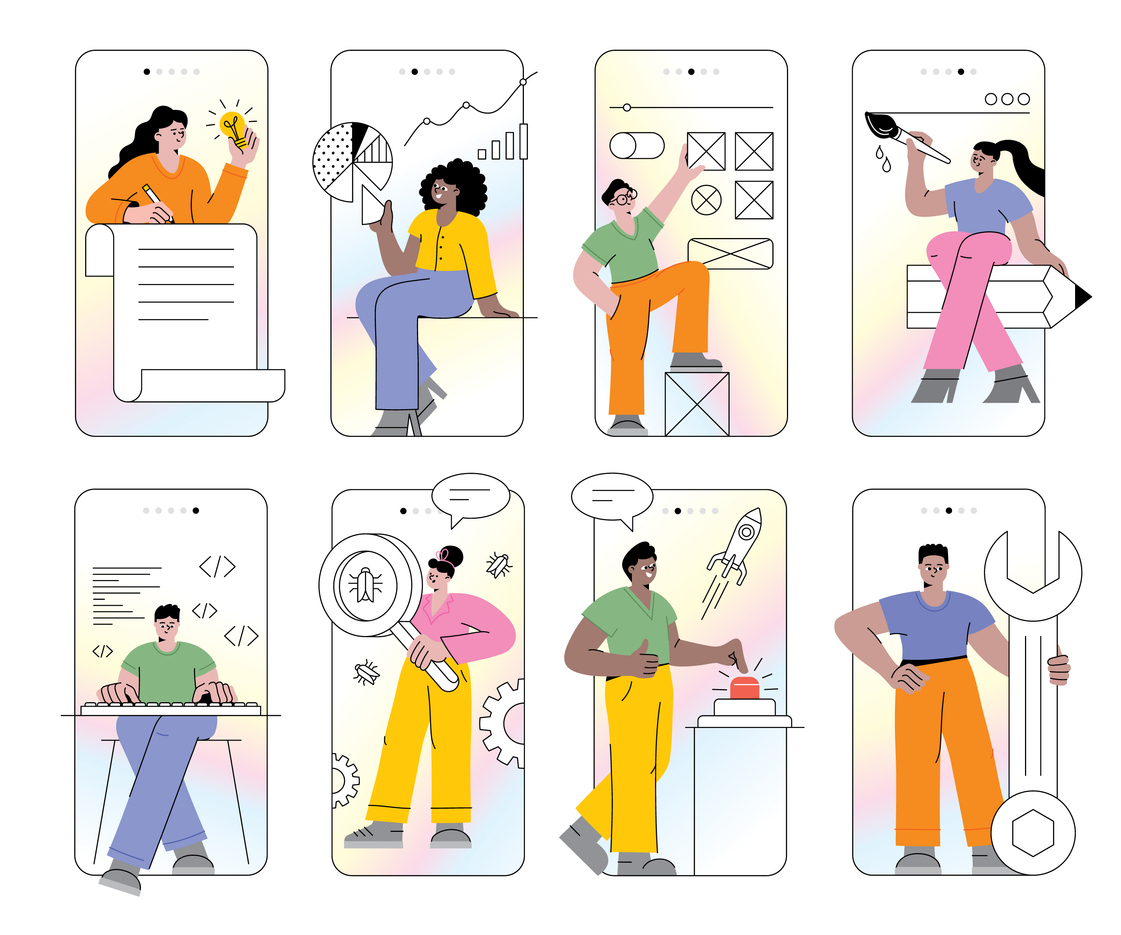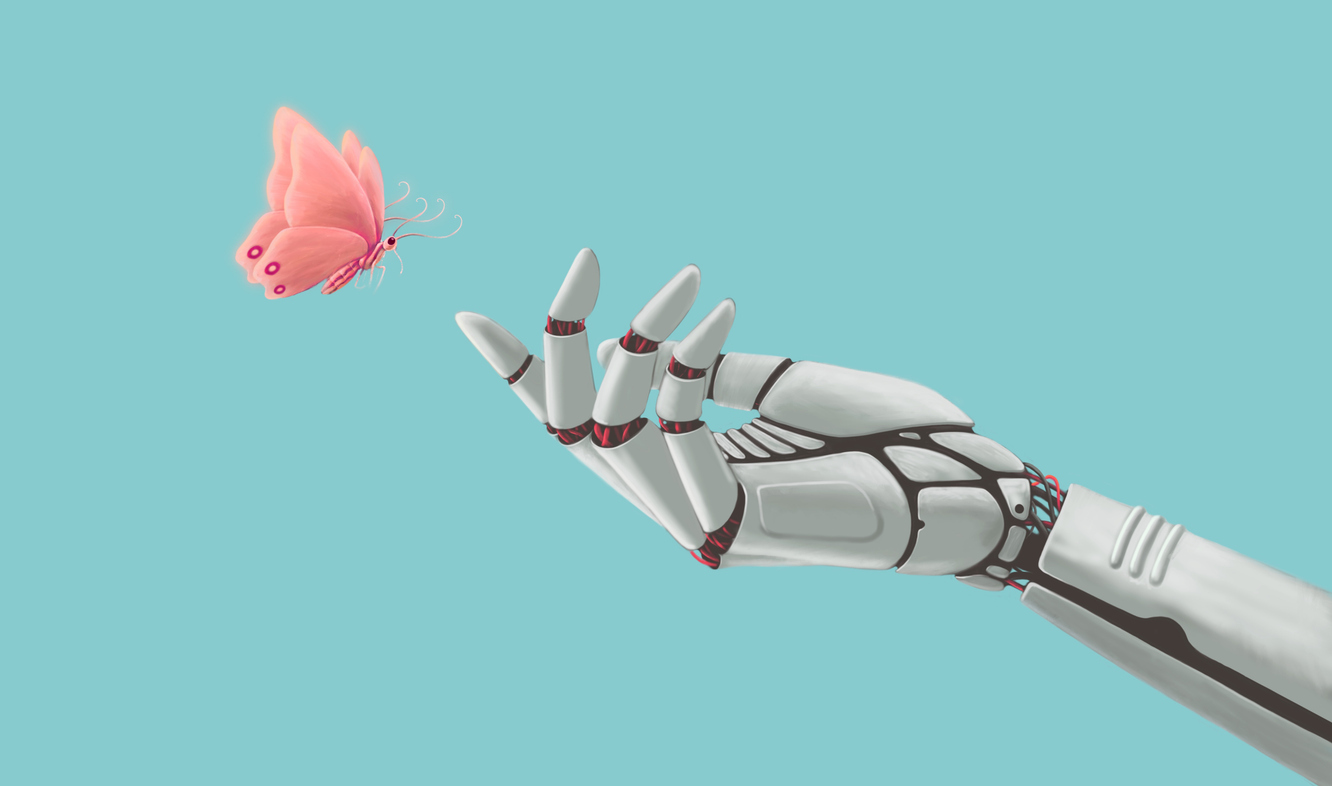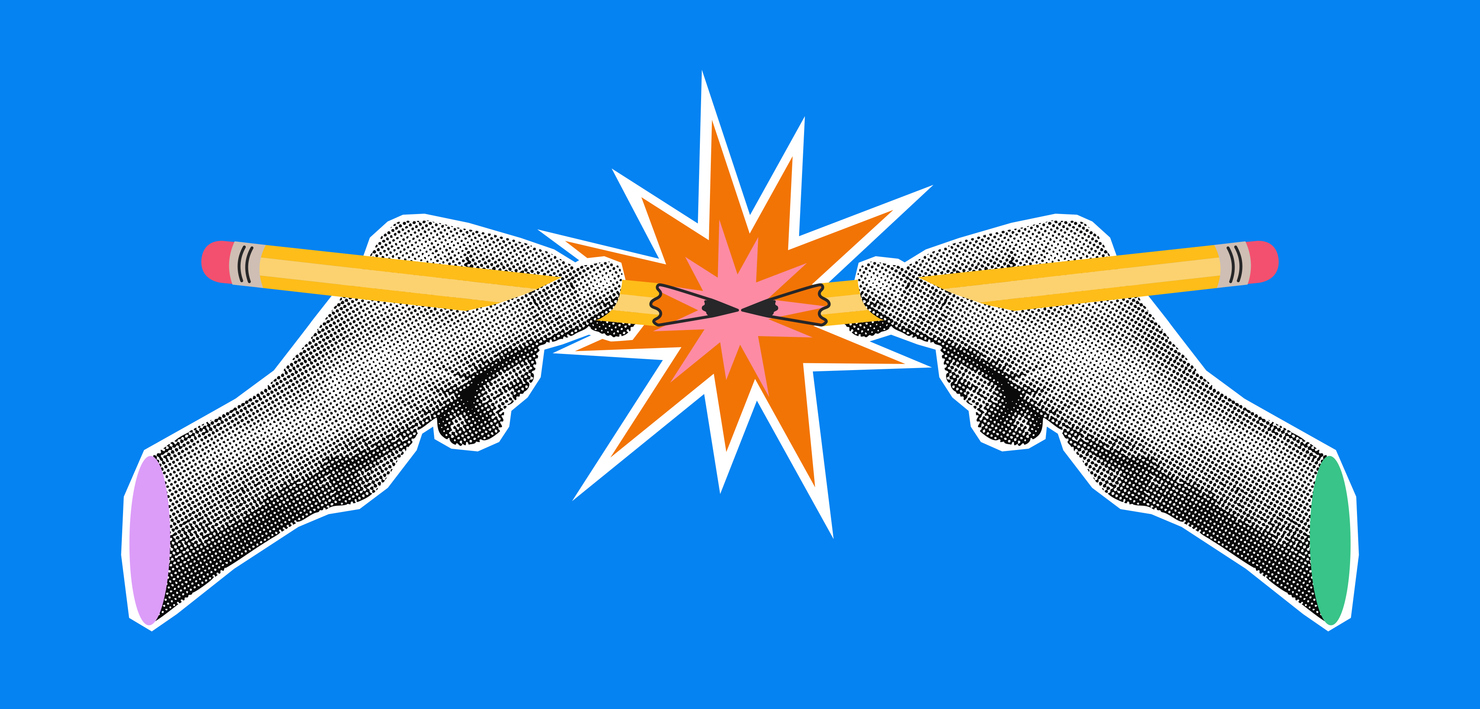**SAIBA MAIS SOBRE A PESQUISA DE LAZZARINI**
O que o professor e pesquisador do Insper Sérgio Lazzarini chama de “capitalismo de laços” pode ser visto como um fator estrutural da cultura empresarial brasileira. A expressão ganhou visibilidade pela primeira vez em 2005, no meio acadêmico, quando, depois de investigar o suposto aumento da participação estrangeira em nossas empresas, que decorreria das privatizações do governo FHC, Lazzarini publicou uma descoberta que contrariava a intuição geral: alguns poucos grupos privados tinham aumentado sua participação nos negócios – e não diminuído –, juntamente com entidades ligadas ao governo (como o BNDES e fundos de pensão). Os laços entre eles criavam um “mundo pequeno”.
Na esteira da crise financeira mundial em 2008, quando, em todo o mundo, houve a volta do Estado como elemento ativo para a capitalização das empresas, Lazzarini atualizou sua pesquisa, convertendo-a no livro Capitalismo de laços, que seria lançado em 2010.
Lazzarini começava o livro com a descrição de episódios de intervenção na Vale em 2009, que ilustravam o “emaranhado de contatos, alianças e estratégias de apoio gravitando em torno de interesses políticos e econômicos”. E, assim, confirmando que o poder econômico no Brasil está concentrado nas mãos dos que se inserem e se articulam em uma rede de laços corporativos, unindo alguns grupos privados e o governo.
Agora, em 2018, Lazzarini atualiza novamente sua pesquisa, após o ciclo de sucesso marcado pelo fato de o País ter sediado eventos mundiais como a Copa do Mundo de Futebol e a Olimpíada, e pelo fracasso simbolizado pela Operação Lava-Jato, que expôs as vulnerabilidades do modelo. E lança uma nova edição do livro, agora pela BEĨ Editora.
Com a análise dos principais proprietários das empresas brasileiras, Lazzarini mostra que o “mundo pequeno” está mais forte que nunca; atores governamentais e grupos privados tidos como “campeões nacionais” aumentaram sua centralidade. Como exemplo dos segundos, ao final de 2012, Eike Batista era o homem mais rico do Brasil, com fortuna de US$ 30 bilhões. Como exemplo dos primeiros, os ativos do fundo de pensão Previna mesma época (US$ 82 bilhões) e das participações em renda variável do BNDES (US$ 53 bilhões). HSM Management publica com exclusividade um trecho da nova edição do livro.
Como lembra Claudio Haddad, presidente do Insper, no prefácio da nova edição, nosso capitalismo de laços é uma versão do modelo corporativista que teve origem na Europa continental entre o fim do século 19 e o início do 20. Nele ficava clara a predominância de um setor privado liderado, protegido e regulado pelo governo, composto de grande grupos favoritos e, do lado do trabalho, havia a prevalência de sindicatos fortes que negociavam com esses grupos e eram supervisionados pelo governo.
Em seu discurso perante o Comitê Internacional que elegeu o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o presidente Lula afirmou que o Brasil passava por “um excelente momento”, com “uma economia organizada e pujante, que enfrentou, sem sobressaltos, a crise que ainda assola tantas nações”. À época do discurso, em outubro de 2009, o mundo ainda se debatia para escapar da forte contração trazida pela quebra dos mercados financeiros nos países desenvolvidos. Pouco a pouco, as atenções se voltaram para mercados emergentes, como o Brasil, cuja trajetória de crescimento trazia esperança de uma recuperação mais rápida da economia mundial. Antes tidos como nações-problema, acometidos por dívidas vultosas, setores empresariais letárgicos e maus governos, muitos países emergentes despontariam como eixos globais de dinamismo econômico na primeira década do século 21.
Ao fascínio com o crescimento dos emergentes, juntava-se certa estranheza. Como poderiam ter sucesso países que, em grande medida, se distanciavam do modelo liberal, “de mercado”, preconizado no final do século anterior? Nos novos países que despontavam – notadamente nos chamados “BRICs” (Brasil, Rússia, Índia e China) –, um capitalismo diferente surgia, nutrido por um profundo entrelaçamento entre atores públicos e privados. E vozes ao redor do globo decretaram a falência do sistema “de mercado” em prol de um modelo econômico mais “coordenado”, envolvendo extensos canais de interação entre empresas e setor público. Estaria correto celebrar a vitória do capitalismo de laços?
Várias facetas do capitalismo brasileiro convergem para a ideia de mundo pequeno: aglomerações interligadas entre si por alguns poucos atores centrais de conexão. Donos estabelecem laços societários cruzados e participam conjuntamente como sócios de conglomerados empresariais. São aglomerações que surgem devido a dois atributos típicos das redes societárias brasileiras: os consórcios (vários donos associados a um mesmo projeto ou empresa) e as pirâmides de controle (donos com participações em uma empresa intermediária, que, por sua vez, agrega posições em diversas outras). Há até um instrumento legal servindo como amálgama dessas junções: o acordo de acionistas, definindo a distribuição de poder de influência em contextos que envolvem sócios múltiplos.
Os principais conectores, por sua vez, são atores direta ou indiretamente ligados ao governo – especificamente, o BNDES e fundos de pensão de estatais e, em menor grau, alguns poucos grupos domésticos que mais se aproveitaram dos eventos de liberalização ocorridos no Brasil após meados da década de
1990. A elevada centralidade desses atores se dá devido à sua extensa participação em múltiplas aglomerações. BNDES e fundos de pensão passaram a surgir com frequência no capital acionário de grupos e como instrumentos de capitalização em consórcios. Para o governo, especialmente durante os leilões de privatização, o envolvimento desses atores ajudou a dirimir críticas de que as estatais estavam sendo entregues aos interesses do setor privado. Já sob o ponto de vista de grupos privados, o elevado volume de capital trazido por aqueles atores públicos também era extremamente vantajoso. Muitos grupos se capitalizaram com recursos do governo e conseguiram preservar o controle, ainda que muitas vezes compartilhado, das empresas das quais participavam. Esse processo continuou após as privatizações, com o envolvimento ativo do BNDES e dos fundos de pensão em consórcios e iniciativas de consolidação setorial.
Há dois principais traços característicos do capitalismo de laços brasileiro: aglomerações de proprietários privados e atores públicos como nós centrais nas redes [veja figura abaixo]. Considere, primeiro, o efeito das aglomerações de proprietários. Em um país com escassez de crédito, infraestrutura deficiente e elevados acustos de transação, a formação de “círculos de confiança” permite juntar capital financeiro e recursos complementares para suportar investimentos de grande escala. Sob bem desenhados acordos de acionistas, é possível trazer à mesa empresários e investidores com competências e interesses sinérgicos.
Além disso, participações cruzadas de proprietários em múltiplas firmas permitem espalhar investimentos em um grande número de indústrias – o que contribui para reduzir o risco do patrimônio dos proprietários e também para irrigar a economia brasileira.

A experiência brasileira mostra, entretanto, dois potenciais perigos das aglomerações. Como muitos proprietários se agrupam por meio de pirâmides societárias e blocos de controle bem definidos, surgem conflitos diversos dentro e fora desses círculos. A lógica de ação é voltada para se buscar controle – ou poder diferenciado de influência –, cooptando parceiros e formando coalizões. Ainda que várias iniciativas tenham caminhado na linha de mais proteção a minoritários (como a constituição do Novo Mercado), as estruturas societárias no Brasil ainda são muito calcadas em pirâmides societárias complexas e com capital concentrado em poucos donos. Quem não conhecer em detalhes as regras do jogo de todo esse processo terá mais dificuldade para entrar e prosperar no mundo corporativo brasileiro.
Adicionalmente, o entrelaçamento societário de alguns proprietários – especialmente grupos econômicos – é um mecanismo que tende a suportar práticas anticompetitivas. Se três grupos se juntam em um consórcio, são dois concorrentes a menos em um setor. Participando conjuntamente de múltiplos setores, os grupos podem se coordenar informalmente dividindo mercados e evitando ataques agressivos. Com seus diversos laços societários – um grupo com posição em uma firma de outro grupo –, essas estratégias de coordenação tornam-se ainda mais factíveis.
Já a participação do BNDES e dos fundos de pensão de estatais em diversas empresas e consórcios soma-se ao já citado efeito das aglomerações de proprietários: permite um aporte de capital, a menor custo, para se financiar investimentos de larga escala e de longa maturação. Além disso, alguns empresários ressaltam que esses atores ligados ao governo trazem outro aspecto relevante: são sócios com horizonte de mais longo prazo, que não se submetem às pressões temporárias do mercado financeiro. Assim, facilitam a execução de projetos de grande porte e mais arriscados, com grande proporção de capital imobilizado em ativos dedicados à sua atividade-fim (por exemplo, plantas industriais e maquinários). Investidores “de mercado” acabam exigindo juros altos demais para se associar a projetos desse tipo.
**QUESTIONAMENTOS**
A irradiação da presença do governo na teia societária das empresas brasileiras suscita uma série de questionamentos, no entanto. Embora as participações do BNDES e dos fundos de pensão de estatais sejam minoritárias, estes são atores que agem alinhados às iniciativas do governo. Dessa forma, possibilitam que o braço estatal interfira nas dinâmicas internas do setor privado. Sob o estímulo do governo, grupos se fundem, consórcios se formam, empresas se expandem. Não fosse assim, muitos diriam, dificilmente ícones nacionais como a Vale ou a Embraer teriam prosperado.
Então, três perguntas devem ser respondidas
• **A primeira: qual é o custo dessas intervenções?** Ao alocar discricionariamente capital societário em diversas firmas, o governo deixa de direcionar recursos para projetos tão ou mais meritórios e com impacto social mais amplo (aeroportos, portos, estradas, ferrovias, rodovias, escolas, saneamento, energia, saúde, ciência e tecnologia, só para citar alguns exemplos). Além disso, a contrapartida direta da capitalização recebida pela empresa é a maior incerteza em sua gestão, pois esta poderá ser influenciada politicamente de acordo com o gosto do governante em exercício.
Nesse ambiente, as empresas costumam responder de duas maneiras:
**1.**Podem transformar, artificialmente, o que deveria uma restrição em uma oportunidade. Se o governo quiser estimular o desenvolvimento de determinado setor, os empresários que mais rapidamente se movimentarem terão, possivelmente, mais vantagens. Mais ainda, argumentando que sua entrada foi incitada pelo governo, poderão clamar por operações de “salvamento” caso seus projetos se mostrem pouco competitivos.
**2.**Podem formar laços clientelistas como forma de obter benefícios diretos ou se proteger contra mudanças adversas. Cultivando laços com o sistema político, e especialmente com a coalizão vigente, os grupos empresariais podem contrabalançar o poder de influência do governo e, de quebra, ter acesso a oportunidades e recursos diferenciados. Um jogo para poucos.
**• A segunda pergunta é: no cômputo final, os aspectos positivos desses padrões de entrelaçamento no Brasil compensam suas disfunções?**
Certamente, seus diversos benefícios não devem ser ignorados. Porém, isso não implica que seus custos devam ser esquecidos ou simplesmente tomados como mero efeito colateral. Da mesma forma que os ardorosos defensores do livre mercado tendem a fechar os olhos para os benefícios de uma maior “coordenação” da economia, aqueles que pregam maior presença do Estado em associação com grupos domésticos jogam sob o tapete as possíveis consequências deletérias dessas ações.
Dito isso, o argumento de que o Brasil precisa de mais entrosamento do governo com o setor produtivo e mais ênfase em grupos domésticos e aglomerações privadas é de difícil justificação. Dada a notável resistência do capitalismo de laços brasileiro e o seu fortalecimento nas últimas décadas, pode-se contra-argumentar que o grau de “coordenação” da economia brasileira já é elevado. No começo do século 21, o Brasil já apresentava o chamado indicador de mundo pequeno similar ao México, 2,8 vezes superior à Coreia do Sul, 5,1 vezes superior à Itália, 7,8 vezes maior que o do Chile e 12,2 vezes acima do observado nos EUA. Os movimentos subsequentes de reforço das participações do BNDES e dos fundos de pensão só fizeram acentuar essa tendência.
**• Há uma terceira pergunta a fazer: é possível mudar “o que sempre foi”?**
Afinal, só vale a pena tentar se for algo possível. O economista Douglass North, laureado com o Prêmio Nobel em 1994, argumenta que é muito difícil promover mudanças em dinâmicas profundamente enraizadas na matriz institucional de um país. Por que tomadores de decisão, públicos ou privados, se preocupariam em transformar algo que lhes convém? Sob essa perspectiva, estaríamos presos à nossa própria história: se for para mudar algo, é para que tudo fique como está.
No entanto, o Brasil já teve algumas experiências de transformação do seu capitalismo de laços –, ainda que efêmeras. Vale citar, por exemplo, as mudanças ocorridas na Primeira República, notadamente entre 1890 e 1915, que o historiador econômico Aldo Musacchio examinou em detalhe.
**MUDAR É POSSÍVEL? O CASO DA 1ª REPÚBLICA**
A evidência disponível mostra que, entre 1890 e 1915, o capitalismo brasileiro floresceu com uma intensidade que só seria vista novamente no final do século 20. Muitas empresas lançaram ações em bolsa, em setores diversos como manufatura, ferrovias, portos e bancos. O mercado acionário movimentava um volume expressivo de recursos, e o controle das empresas passava mais facilmente de mão em mão. Todas as ações tinham direito a voto, e muitas empresas estabeleciam um número máximo possível de votos que poderiam ser concentrados em um único acionista. Em vez de recorrer apenas a bancos públicos, as firmas se financiavam amplamente por meio de emissão de títulos de dívida privada (debêntures). O estoque desses títulos atingiu, em 1915, 18% do PIB brasileiro – um valor bastante alto, se comparado com os meros 3% observados no início do século 21. Era, nas palavras de Aldo Musacchio, um período de “democracia financeira”. (Como é costume ocorrer em períodos de euforia, houve excessos, é claro. O conhecido episódio do “Encilhamento”, entre 1890 e 1891, foi uma onda especulativa na bolsa que trouxe várias perdas, acompanhadas de casos de fraude.)
Um exame mais minucioso das condições institucionais daquele período mostra um cenário mais positivo. O então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, reduziu os custos para lançar empresas e vender papéis depois da emissão. Existindo somente ações com direito a voto, e com limites à concentração de controle, mais investidores minoritários se motivaram a capitalizar as empresas. Do lado do mercado de dívidas, a legislação vigente promovia proteção aos credores em caso de falência da firma. Com a garantia de proteção a credores, a oferta de crédito se expandiu, beneficiando as empresas. E isso não era apenas consequência da prosperidade econômica da época.
O que fez, então, o capitalismo brasileiro recuar naquele momento? Com a Primeira Guerra Mundial, e especialmente com a Grande Depressão de 1929, o fluxo internacional de capitais secou. A Inglaterra, que era o centro financeiro da época, viu seus mercados se deteriorarem. Dependente de recursos externos, o Brasil sofreu um choque direto e decisivo por conta disso.
Com o golpe que tornou Getúlio Vargas presidente provisório da República em 1930, as condições políticas internas também mudaram radicalmente. Criticando a ênfase liberal e a abertura externa do período anterior, Getúlio, de pronto, demarcou de maneira bastante explícita sua visão de Estado: “Julgo ainda aconselhável a nacionalização de certas indústrias e a socialização progressiva de outras, resultados possíveis de serem obtidos mediante rigoroso controle dos serviços de utilidade pública e lenta penetração na gerência das empresas privadas, cujo desenvolvimento esteja na dependência de favores oficiais”. Tratava-se, nas palavras de Raymundo Faoro, de uma “mistura de privatismo com estatismo”.
O que teria acontecido se Getúlio Vargas tivesse preservado algumas características positivas da Primeira República? Com um controle societário menos concentrado, baixos custos de transação para lançar empresas e maior proteção a credores, é possível que o Brasil voltasse a ter, em meados do século 20, condições institucionais altamente atrativas para novos investidores e credores privados. E, com maior número de empreendedores prosperando, poderia ter havido, no final das contas, menor concentração de renda e um desenvolvimento industrial mais rápido.
**CONSTRUIR SOBRE OS ASPECTOS POSITIVOS**
Não vamos nos ater ao que poderia ter acontecido, contudo. O Brasil precisa de ação imediata, a partir do modelo de negócio que já está posto. Apesar de ter exibido um crescimento vigoroso na primeira década do século 21, os excessos do capitalismo de laços brasileiro colocaram o País em uma trajetória de incerteza, com elevados gastos públicos e privilegiando poucos.
Há muito ainda o que fazer para construir sobre os aspectos positivos do capitalismo de laços e, ao mesmo tempo, mitigar seus riscos potenciais. Esse é o claro desafio que se impõe aos novos governantes.