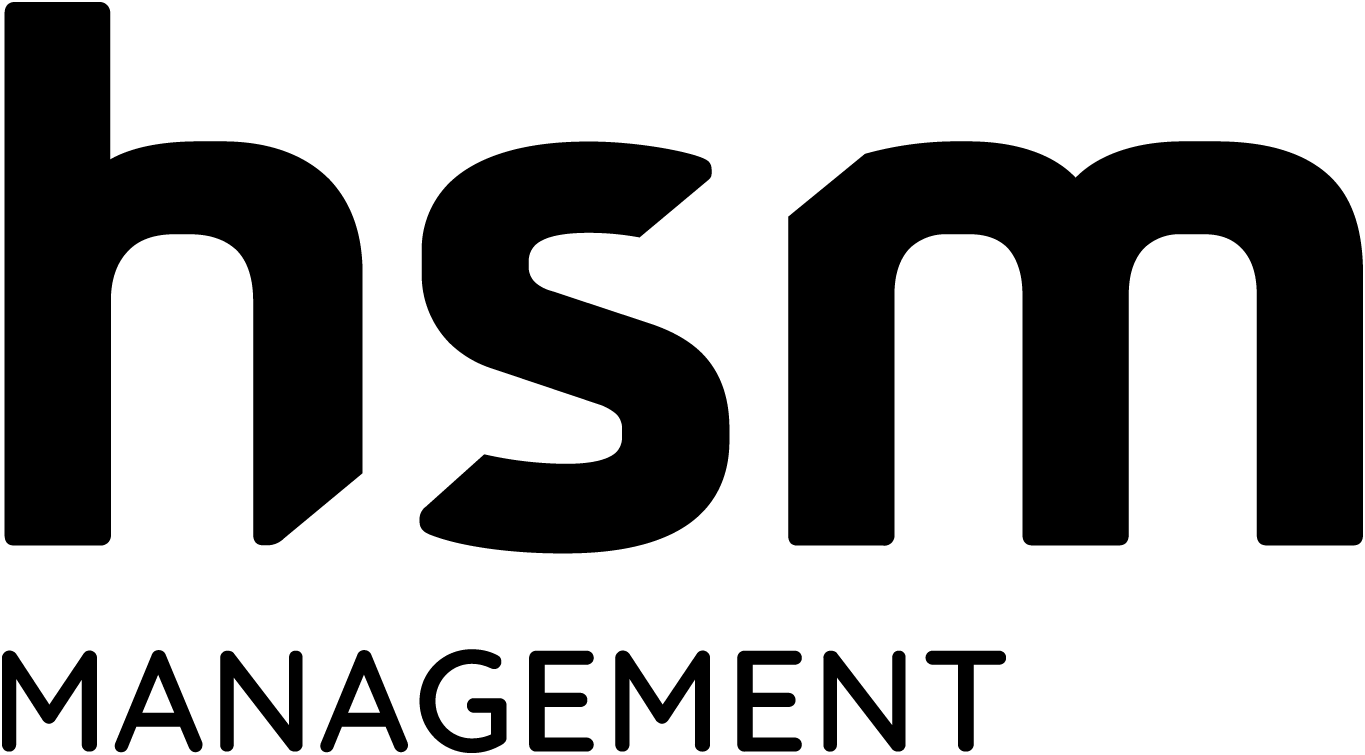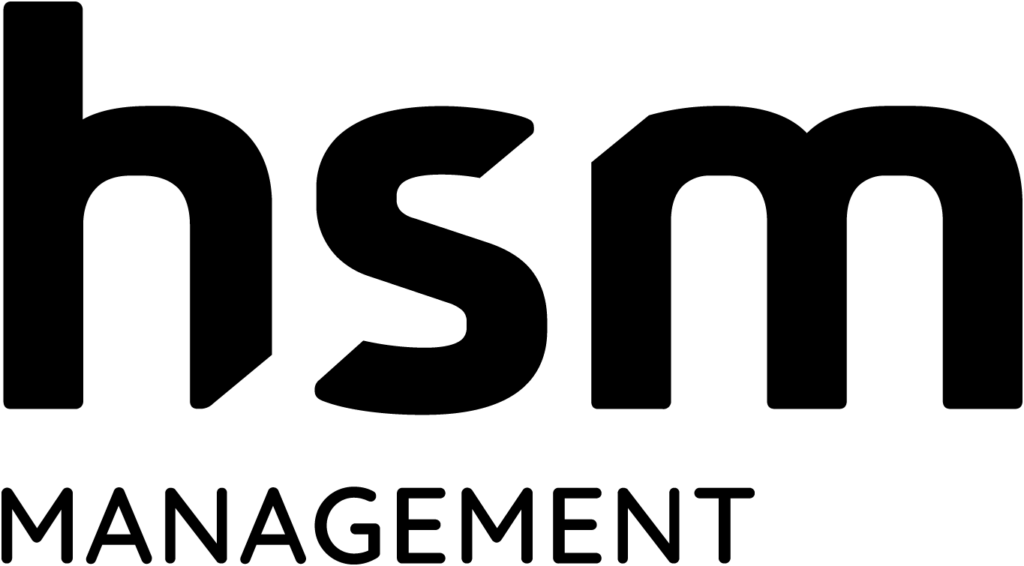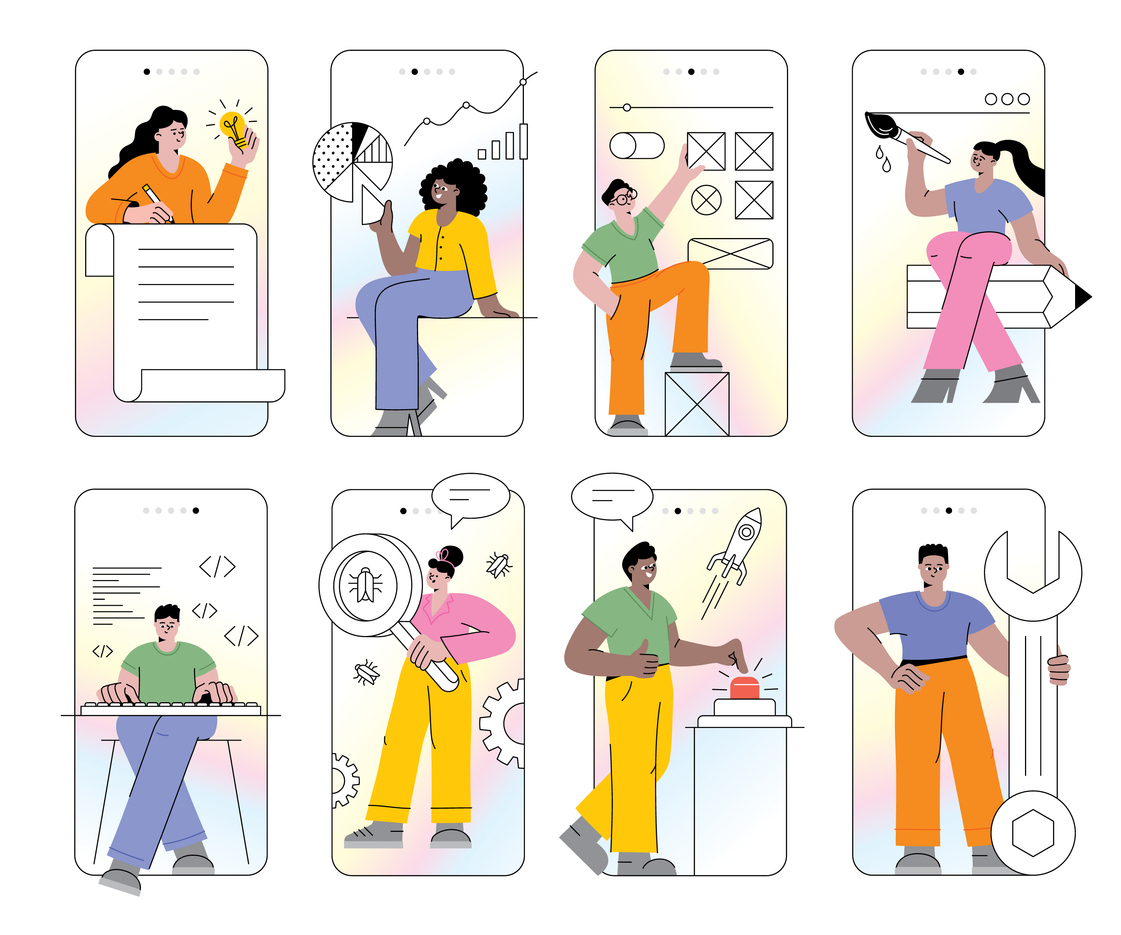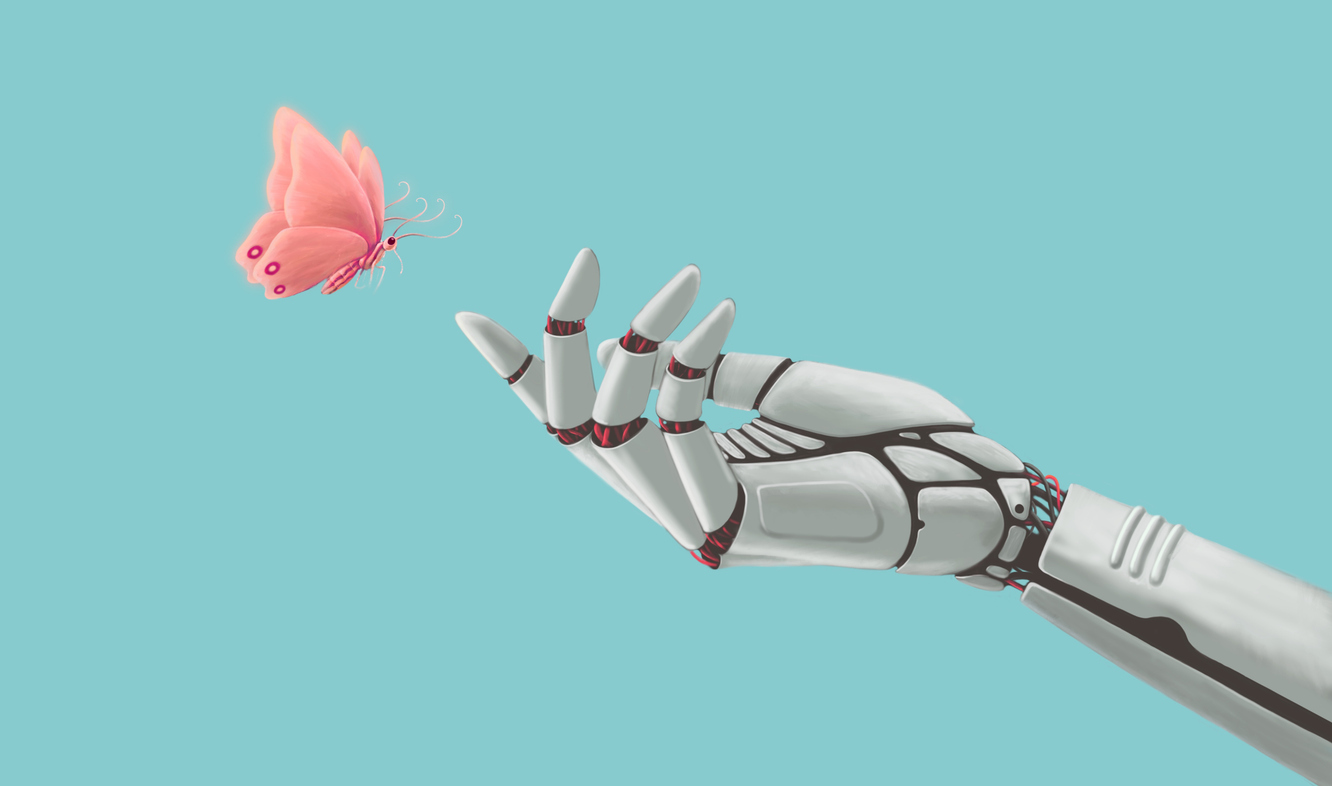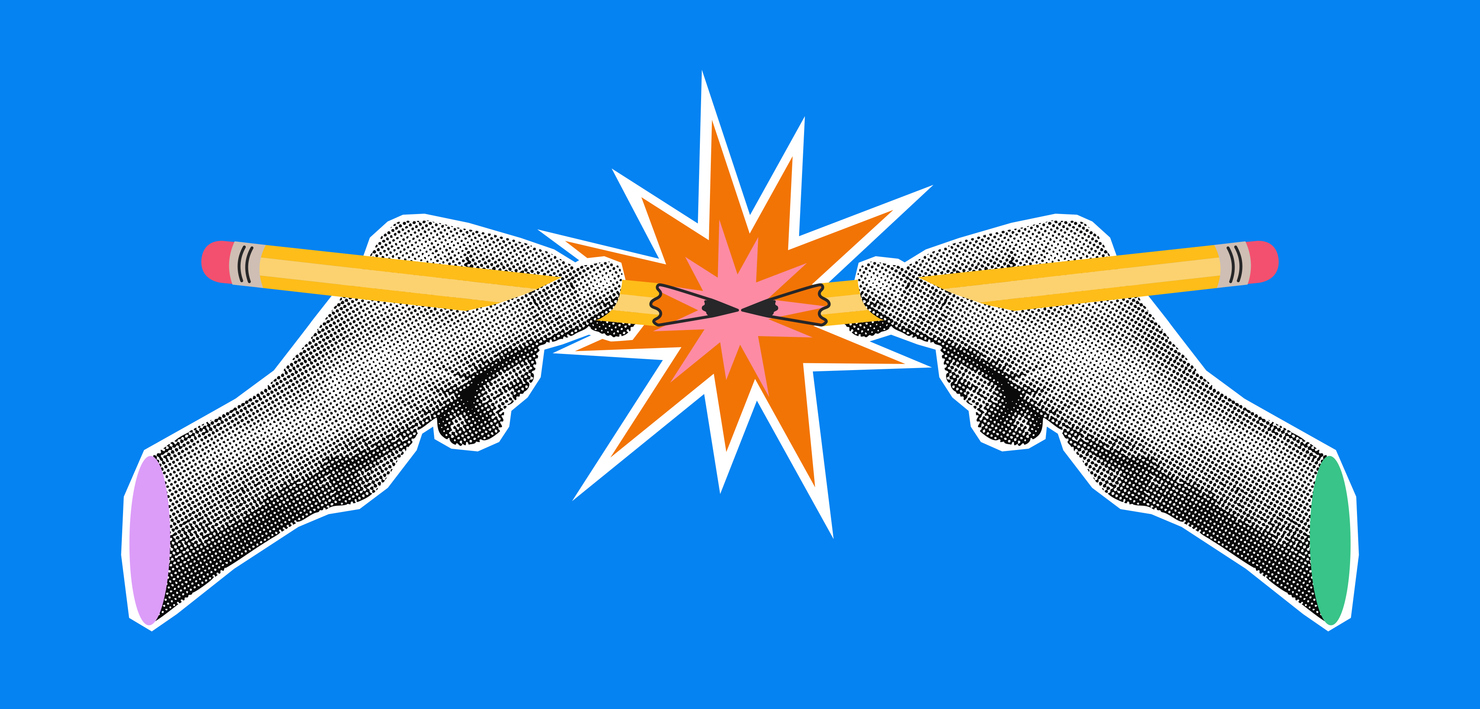Eu enxergava a trajetória do Brasil mais ou menos como um voo de galinha. Quem já viu uma galinha “voar” entende a força dessa expressão. Ela corre, bate as asas e parece que vai levantar voo, porém, logo despenca, frustrada. De certa forma, era o que vinha acontecendo no Brasil desde que, na primeira década dos anos 2000, comecei a viajar pelo mundo para conversar com os investidores mais sofisticados do planeta sobre investimentos no País.
Explicar o Brasil lá fora nunca foi uma tarefa simples, mas, entre 2005 e 2010, o indicativo de que viveríamos um bom momento facilitava um pouco a missão. O País crescia a um ritmo médio de 5,5% ao ano. O mercado consumidor se ampliava, com o aumento do poder aquisitivo da classe C, e os investidores estrangeiros injetavam dólares a rodo na nossa economia, estimulados pelas boas notas que as agências de classificação de risco davam ao País. Lembro-me exatamente do dia em que o Brasil recebeu o “grau de investimento”. Era 30 de abril de 2008 e eu estava na Argentina, em viagem com amigos. Comíamos um choripán, o famoso sanduíche de linguiça, na frente do aeroporto doméstico de Buenos Aires, o Aeroparque, esperando para pegar o voo até Mendoza. Quase chorei de emoção, parecia o prenúncio de uma nova era.
O Brasil se destacava entre os emergentes e se preparava para sediar a Copa do Mundo de 2014. Em São Paulo, a rede hoteleira não dava conta de tantos homens e mulheres que se dirigiam à cidade a fim de fechar negócios. O Rio de Janeiro se organizava para lançar sua candidatura, bem-sucedida, aos Jogos Olímpicos de 2016.
Em 2009, a revista inglesa The Economist deu o Brasil na capa, uma imagem espetacular do Cristo Redentor descolando-se do Corcovado como um foguete em ascensão, tendo o céu como limite. “Brazil takes off”, dizia a manchete, algo como “o Brasil decola”, em tradução livre. O correspondente da revista no Brasil, John Prideaux, meu amigo desde 1998, quando nos conhecemos em Paris, estava entusiasmado com o que via por aqui; fui ouvido para a reportagem. Na Bolsa de valores, uma profusão de empresas abria capital. Eu era um dos três maiores sócios da gestora de fundos Tarpon, que se lançou na Bolsa em 2007. Foram anos em que o Brasil amadureceu no radar dos investidores globais. Nós, da Tarpon, frequentávamos os tradicionais eventos de recrutamento promovidos pelas universidades americanas para atrair jovens talentos – e muita gente queria vir para o Brasil. E então… chegou uma hora que ninguém mais queria.
À medida que a segunda década do século avançou, a economia brasileira se deteriorou rapidamente. O momento anterior tinha sido mais um voo de galinha, entre outros tantos na trajetória do País. Como gestor, conheci o apogeu e o declínio, a abundância e a escassez. Comecei a refletir muito seriamente sobre a situação do Brasil e sobre a volatilidade dos humores que envolvem o nosso País. Eu não queria – não quero – me mudar daqui. Não me interessa morar em Miami, nem em Portugal. Sou descendente de imigrantes libaneses, italianos e espanhóis acolhidos neste País. Quero que meus filhos cresçam aqui. Ainda acho o Brasil um lugar extraordinário. O que eu podia fazer?
Em 2017, participei do grupo que criou o RenovaBR, ou simplesmente Renova. Não tomei essa iniciativa para construir a minha jornada de herói. Não fiz por vaidade. Fiz porque todos nós, como cidadãos conscientes, temos que enfrentar essa questão. O Renova não é sobre mim: sou apenas quem deflagrou o processo.
A política, tal como a conhecemos no auge dos anos 2000 e no colapso dos anos 2010, está na raiz dos males do Brasil. Essa ideia não chega a ser uma novidade, mas muitas pessoas lavam as mãos e não dão à política o devido valor; preferem classificá-la como suja, corrupta, ineficiente, nociva. Política é coisa séria. É a forma mais madura e eficaz de expressar os anseios da sociedade. Por meio dela nos fazemos ouvir e escolhemos as prioridades da ação do Estado. Isso é o que dizem os livros de ciências políticas, bem como boa parte das Constituições dos países avançados. Mas, no Brasil, a teoria está longe da prática.
Muitos de nós não temos a dimensão da importância do voto. Escolhemos nossos candidatos e não acompanhamos o que eles fazem – ou, quando acompanhamos, é porque nutrimos expectativas equivocadas sobre a atuação do político que elegemos. Não raro, sequer sabemos o raio de atuação de cada eleito, confundindo papéis e responsabilidades. Quando nada acontece, nos frustramos ou deixamos de acreditar. Apertamos a tecla do cinismo, condenamos a política e tocamos a vida. Enquanto isso, em seus cargos executivos ou legislativos, alguns políticos se beneficiam dessa desilusão, acumulam poder e atuam para realizar projetos pessoais. Para eles, fazer política é optar pelo benefício individual ou de um pequeno grupo em detrimento da coletividade.
Aprofundando a questão, chega-se ao sistema eleitoral brasileiro e, em especial, à questão dos financiamentos de campanha, ou seja, ao caminho que esses políticos percorreram para se eleger. Infelizmente, salvo honrosas exceções, não se trata de um caminho de virtude. Até as eleições de 2016, pode-se dizer que parcela significativa dos que obtiveram sucesso na política foi beneficiada por alguma forma de caixa 2 – dinheiro não contabilizado na prestação de contas da campanha. Ora, se um candidato já é eleito com apoio do caixa 2, qual é a chance de ele, no final do dia, ser um político ético? Um político eleito com caixa 2 do crime organizado vai defender os interesses da população? Um político eleito com caixa 2 de empreiteira vai brigar para que uma obra não seja superfaturada? As investigações conduzidas pela princi- pal operação de combate à corrupção do nosso País, a Lava Jato, começaram onde? No financiamento eleitoral.
Não culpo as pessoas que entraram na política até hoje trilhando essa rota. É como funcionava. O problema é que, justamente por isso, a sociedade se afastou da política. E agora precisamos criar alternativas para que a participação política se construa sobre novas bases.
O Renova trabalha para melhorar a dinâmica do jogo político. Trabalha para oferecer a gente boa e empenhada em fazer boa política uma oportunidade de poder entrar nesse jogo. Atuamos para romper o círculo vicioso do clientelismo e das trocas às escondidas e apoiamos o desenvolvimento de candidatos capacitados. Precisamos mudar a dinâmica das eleições no Brasil. Precisamos reduzir os custos eleitorais e não permitir que pessoas físicas ou jurídicas nem dirigentes partidários sejam donos de um candidato ou de um mandato. Sabemos que há partidos que descontam dinheiro do fundo eleitoral de políticos nas campanhas futuras, caso desobedeçam às ordens dos caciques. Assim mesmo: tabelinha.
Até pouco tempo, pessoas jurídicas podiam financiar os grandes empresários. A reforma eleitoral que proibiu a contribuição de pessoas jurídicas, permitindo apenas contribuições de pessoas físicas, mudou o jogo: os “donos” passaram a ser os caciques dos partidos, detentores do famoso fundão eleitoral; e nos vimos diante do clientelismo com recursos públicos. É urgente revermos esse modelo, que nos entrega o pior dos mundos. Voltaremos a esse ponto mais tarde, porque ele é fundamental e está no coração dos maiores problemas do País.
Por enquanto, e para explicar o raciocínio na gênese do Renova, pense comigo: quanto custa a má política para os brasileiros?
Eu já vinha pensando no prejuízo que o País sofria por causa do fisiologismo, da falta de investimentos em infraestrutura, do presidencialismo de favores e de cooptação que se firmou no Brasil. Um dia, então, fiz a conta. Melhor dizendo, fiz uma das contas possíveis: a da perda do valor de mercado das companhias listadas na Bolsa de valores de São Paulo por causa do cenário político-econômico do País. Somei todas as companhias, multiplicando o volume de ações de cada uma pelo preço da ação em 2010 e, naquele momento, início de 2016, tirei duas “fotografias”. O tombo havia sido gigantesco. Entre uma foto e outra, as maiores empresas brasileiras perderam cerca de US$ 700 bilhões em valor de mercado naqueles anos críticos.
O valor de mercado das empresas de capital aberto não é uma boa forma de medir a saúde de uma sociedade ou o bem-estar de um país; existem variáveis para isso, como saneamento básico, qualidade da educação, força das instituições etc. No entanto, esse cálculo traduz uma percepção do risco a que estão sujeitos os ativos locais. Os ativos se valorizam num país bem gerido e, da mesma forma, decaem quando há deterioração dos fundamentos macroeconômicos. Pareceu-me elucidativo saber o tamanho da destruição de valor que uma política ruim pode trazer para a sociedade e a economia de um país.
Guarde este número: US$ 700 bilhões.
O que aconteceria se tivéssemos na política pessoas competentes, honestas e comprometidas em não seguir a cartilha de ninguém – apenas a própria bússola moral? Quanto custaria reformar a política brasileira? Fui atrás de respostas. Procurei políticos que conhecia e perguntei: qual o custo médio da campanha de um candidato vitorioso para o Senado, a Câmara dos Deputados? O governo estadual? A presidência da República? Cheguei a outro número aproximado: US$ 3 bilhões.
Então cruzei os dois números: US$ 700 bilhões em perda de valor por causa de um sistema político disfuncional, que poderia ser renovado e revigorado com US$ 3 bilhões investidos em candidatos bem formados, que repudiassem a corrupção e trabalhassem pelo bem comum. É bastante dinheiro, claro, e certamente apenas uma entre as várias maneiras de olhar a questão. No entanto, parecia pouco se comparado ao estrago. Uma diferença de mais de mil vezes. Conclusão: é proporcionalmente barato consertar o Brasil.
## Excel tabajara e apoio de empresários
Comecei a testar a ideia. O Excel meio “tabajara” que eu tinha usado para fazer aqueles cálculos se transformou em alguns gráficos um pouco mais sofisticados. Com eles na mão, marquei um café com Abilio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros e amigo próximo. Em seu escritório, no bairro paulistano dos Jardins, ele me ouviu com atenção, fez muitas perguntas, avaliou o projeto e, ao final, me deu aquela que, talvez, tenha sido a primeira bênção para o que eu começava a desenhar mentalmente. Tempos depois, levei a ideia a outros amigos. Expus os números que havia recolhido e observei a fisionomia perplexa das pessoas quando eu falava dos prejuízos que a má política trazia para o Brasil, afetando do grande empresário ao pequeno produtor ou empreendedor. Todos perdem quando o país é capturado.
Ainda estava bem distante do que, no segundo semestre de 2017, viria a ser o Renova. O que eu tinha na cabeça, então, era uma espécie de aceleradora de empreendedores cívicos. O conceito de “aceleradora” é relativamente recente e nasceu com as startups; nesse modelo de apoio à criação de novas empresas, o importante é que a escolhida para receber a “aceleração” tenha potencial para avançar e crescer. Em vez de apoiar um empreendedor e seu negócio, eu pensava em oferecer suporte a um empreendedor cívico, uma pessoa que desejasse entrar no jogo político com o objetivo de fazer boa política. No fundo, era uma nova forma de venture capital, ou capital de risco – porque (e, para mim, esse era o ponto fundamental) a ideia era justamente não pedir nada em troca do apoio. Um dos amigos a quem eu havia apresentado minhas inquietações, Humberto Laudares, cientista político e economista com boa experiência em gestão pública, sugeriu um nome para essa empreitada: Fundo Cívico para a Renovação Política.
Os empreendedores cívicos que o Fundo apoiaria teriam que se encaixar em algumas regras. Deveriam ser novatos na política, ou seja, não ter ocupado cargo eletivo anterior. Quem já estava na política poderia ter relações com o esquema vigente, mesmo que tivesse chegado com as melhores intenções, e a ideia era atrair gente sem amarras, sem obrigações para com partidos ou grupos aos quais deviam o financiamento de suas campanhas ou outros favores. Não poderiam ter nenhum envolvimento com qualquer atividade criminosa (claro). Deveriam mostrar entusiasmo por aprender a navegar no universo político e submeter-se a um baita processo de seleção.
Ainda assim, a questão-chave, me parecia, era viabilizar a jornada de candidatos qualificados. Naquele momento, eu era movido pelo raciocínio de apoiar candidatos individuais. Chegar ao ponto de maturidade do Renova exigiria muito tempo, trabalho e reflexão. Aos poucos compreendi que, para avançar, precisávamos de grandes ondas, e evoluí desse raciocínio “individual” para um pensamento estrutural. Precisávamos de mais do que apenas alguns indivíduos.
De todas as regras, a que me entusiasmava era apoiar a entrada de gente nova na política por um caminho que ainda não tinha sido trilhado, ajudando a estabelecer uma nova referência. Quem tem cargo político hoje conta com gabinete, assessores, verbas diversas. Já quem se lança na política saindo do nada… só tem a cara e a coragem. Eu queria ajudar essas pessoas com conhecimento, capital e mentoria – mas, insisto, era algo ainda muito distante do que viria a ser o programa estruturado do Renova. “Vamos investir nesses caras porque, se eles derem certo, será bom para o Brasil.” Esse era o meu mantra, pois achava que gente boa, no final do dia, ajuda a puxar mais gente boa. Além disso, se atrelasse esse apoio a ideias defendidas por mim ou por aqueles que começavam a se aproximar do projeto, cairíamos na mesma armadilha que eu queria evitar. Concluí, então, que um processo de seleção bem conduzido, criterioso, que identificasse gente boa, decidida a trabalhar pelo País, independentemente de matizes ideológicos, poria o Fundo Cívico de pé.
Depois da bênção de Abilio, uma das primeiras pessoas com quem falei sobre o projeto foi Claudio Szajman, filho de Abram, empresário fundador da Vale Refeição. Claudio e eu tínhamos nos encontrado pela primeira vez em Nova York, alguns anos antes, quando morei na cidade. Nos conhecemos no ambiente de negócios, mas o que nos aproximou, de fato, foi um interesse comum pelos desafios do Brasil, que ele acompanhava de longe, uma vez que morava em Manhattan desde 2012, e ao mesmo tempo de perto, já que muitos de seus empreendimentos estavam aqui. Foi ele quem me colocou em contato com Luciano Huck, que, naquele momento, não ventilava a ideia de se candidatar a nada. Filhos de famílias judaicas de São Paulo, Claudio e Luciano se conheciam havia décadas, e para Claudio estava nítido que tínhamos ideias muito próximas sobre o País. Expliquei meu plano a ambos, em oportunidades diferentes, e gostaram bastante da iniciativa.
Cada vez mais entusiasmado, voltei a Humberto Laudares, que colecionava passagens pela Secretaria de Economia e Planejamento do governo estadual de São Paulo e pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde trabalhou com Tasso Jereissati. Humberto, que foi um dos fundadores do movimento Agora e avaliava se seria candidato a deputado federal em 2018 (resolveu se candidatar, mas não se elegeu), comprou a ideia de imediato. Gabriel Azevedo, um jovem advogado mineiro que, tempos depois, daria a aula final da primeira classe do Renova, na Praça dos Três Poderes, adorou a proposta e mergulhou de cabeça. Dia após dia, submeti o que podia parecer uma excentricidade a gente que eu respeitava. Vinha obtendo um retorno suficiente para não desistir. Uma reação frequente era me perguntarem por que eu mesmo não me candidatava. Respondia o que respondo até hoje: porque, de alguma maneira, estou convencido de que seria mais eficaz ajudar um monte de gente do que atuar como uma andorinha solitária.
Tinha minhas inseguranças, dúvidas e um receio gigantesco de fracassar. De qualquer forma, resolvi ir em frente e tocar o projeto. Acho que meu maior medo era não fazer. E se não fizesse algo as coisas não mudariam. Seria a vitória do status quo, mais uma vez…