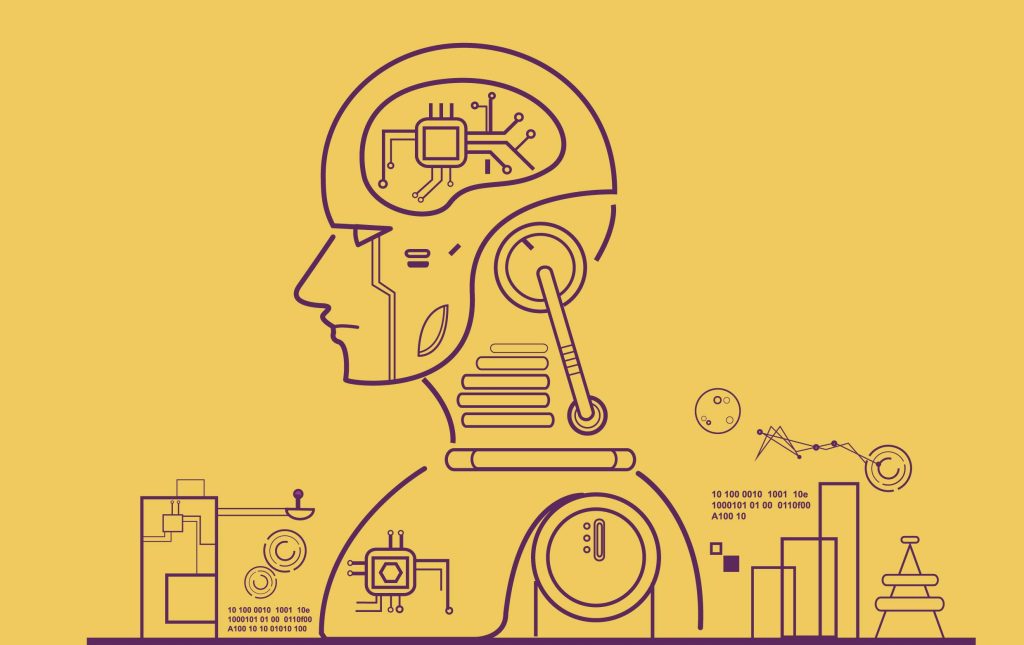Você já ouviu falar em Mary Anning? Na primeira metade do século 19, essa inglesa fez uma impressionante série de descobertas de “dinossauros” marinhos e voadores, como um ictiossauro, um plesiossauro e um pterossauro. Ela trabalhava sozinha na região de Lyme Regis agachada na praia com seu machado. Recentemente, o renomado paleontólogo e biólogo evolucionista Stephen Jay Gould lhe fez um tributo, dizendo que ela descobriu diretamente ou apontou o caminho até quase todas as espécies importantes.
Anning levou mais de um século para ser reconhecida pelo Museu de História Natural de Londres, onde estão seus fósseis – ganhou uma placa em 1990. Não por ser mulher, embora isso não a tenha ajudado, mas, principalmente, por ser uma paleontóloga não oficial. Anning não estudou formalmente nem era ligada a nenhuma instituição acadêmica; tratava-se de uma empreendedora (vendia os fósseis) e era autodidata. Tipo de profissional do passado que pode voltar a prevalecer no futuro, ela é citada no livro The History of Work, de Richard Donkin, jornalista que por 14 anos escreveu uma coluna semanal no Financial Times.
O homem moderno surgiu 100 mil anos atrás e durante 99.800 quase nada mudou no modo como trabalhava. Só que, nos últimos 200 anos, há uma transformação acelerada, que gerou muita riqueza, e agora chegamos a um ponto de inflexão. O que já se sabe é que a mentalidade autodidata e a habilidade do empreendedorismo são duas das novas características-chave do novo trabalhador – ao lado de resiliência, o que vem no pacote empreendedor, e Anning também parecia ter de sobra, já que aguentava o desprezo da sociedade da época.
Porém, a inflexão não ocorrerá sem dor. Projeções como as do economista sueco Carl Benedikt Frey e do especialista em inteligência artificial britânico Michael Osborne, da University of Oxford, indicam que 47% dos empregos existentes hoje nos Estados Unidos estarão ameaçados pelos robôs até 2030. Um estudo realizado por acadêmicos da Universidade de Brasília (UnB) projetou uma ameaça ainda maior no Brasil: 54% dos empregos em risco.
Isso se deve sobretudo às tecnologias digitais da quarta revolução industrial, é claro. Mas não apenas. Conforme a consultoria EY, outros fatores de influência são o envelhecimento da população, a exigência das empresas de ter uma equipe mais engajada e o fato de 75% da mão de obra em 2025 já ser de millennials, propensos a pedir demissão fácil, por exemplo – quando a tecnologia usada ali não os satisfaz.
Não se trata de futurismo, mas de presentismo; esse futuro já chegou. A transformação acontece em duas etapas, como explica a EY: primeiro, vem a economia gig; depois, instala-se a economia das máquinas. Ao menos nos EUA, onde as estatísticas são fartas, a economia gig se espalhou: 62% das empresas já atuam com força de trabalho “flex”. Espera-se que, em 2020, uma em quatro empresas tenha 30% de seus colaboradores sem vínculos.
A falta de engajamento das pessoas nos empregos e a filosofia da geração da internet, de que a verdadeira segurança é trabalhar para si mesmo, é um sintoma disso. Na disputa por empregos, Frey enxerga vantagens comparativas humanas na criatividade, na inteligência social, e na percepção e na manipulação de objetos irregulares –, mas acha que a disrupção será grande e rápida demais, e isso pode levar a um desastre na sociedade, uma vez que nossas identidades hoje são moldadas pelo trabalho (ou emprego). Por isso, escreveu o livro Saving Labour.
Já para Richard Donkin, é bom que nossas identidades não sejam mais moldadas por um empregador, e sim por nossas habilidades. Para ele, o modo como trabalhamos hoje lembra a sociedade escravocrata, e agora temos a chance de mudá-lo. A seguir, HSM Management compara as diferentes visões e a proposta antropofágica dos brasileiros no assunto.
**FUTUROS**
Muitos dos cenários do futuro do trabalho projetados até agora referem-se a 2030, mas, segundo Frey, esse futuro foi adiado para 2050 – ainda temos os próximos 30 anos para nos adaptar. A razão? As reações à tecnologia modelam sua adoção, como já ensinou o economista russo Wassily Leontief – e essas reações hoje não são tão positivas. Em 2012, o chamado “paradoxo de Gates” já deu uma pista disso. Foi quando o fundador da Microsoft observou que “a inovação está mais rápida do que nunca, mas a América está pessimista”.
Não é só a América. Vemos no mundo inteiro um descontentamento crescente com a automação vinda com a globalização, algo refletido na eleição de candidatos que prometem atrasar a adoção tecnológica de algum modo. No caso do Brasil, dois fatores contribuem para adiar o enfrentamento dessa questão: a população idosa ainda não é tão significativa – a tecnologia entra mais rápido em países que envelhecem mais rápido – e nossa internet ainda é bastante precária.
A consultoria PwC traçou quatro cenários cruzando o que acontecerá com as pessoas (tenderão mais ao coletivo ou ao individual?) e com as empresas (vão fragmentar–se ou integrar-se?). A aposta é que os quatro cenários vão coexistir. Aqui separamos os futuros projetados em negativos e positivos a fim de entendermos melhor os futuros em jogo.

**O NEGATIVO**
O historiador Yuval Harari é quem faz a previsão mais alarmante atualmente: “Com os rápidos avanços em biotecnologia e bioengenharia, nós podemos chegar a um ponto em que, pela primeira vez na história, desigualdade econômica se torne desigualdade biológica. Criaremos uma elite de super-humanos, mais inteligentes, saudáveis e longevos. E uma massa de inúteis”.
Mas, em 1995, o economista Jeremy Rifkin tinha dado o alarme no livro O fim dos empregos, prevendo que menos de 2% da atual força de trabalho serão suficientes para cobrir a produção de todos os bens necessários ao atendimento da demanda total em 30 anos e que soluções keynesianas eventualmente adotadas pelos governos não conseguirão combater o desemprego tecnológico, porque este, diferentemente do padrão usual, atinge os três setores da economia – agrícola, industrial e de serviços.
Órgãos oficiais também mostram pessimismo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) projeta que a tecnologia eliminará cerca de 14% dos postos de trabalho existentes e “disruptará” 32% dos empregos. E que dificilmente os ocupantes destes serão requalificados em tempo hábil.
Se o consolo de muita gente tem sido que a tecnologia vai criar mais empregos do que eliminará, como aconteceu em outras revoluções, Daniel Susskind, outro pesquisador da University of Oxford, acaba com essa ideia. Primeiro, ele diz que as pessoas têm suposto o que as máquinas podem fazer imaginando-as como cópias da inteligência humana, e isso é uma falácia; não há realmente limites para o que as máquinas podem fazer. Segundo, observa Susskind, as novas tarefas criadas pelas máquinas não serem entregues necessariamente a seres humanos; elas podem muito bem caber a outras máquinas. Para o estudioso, um aparente equilíbrio vai um dia se desequilibrar em favor das máquinas.
Como diz Frey, se os seres humanos não forem protegidos dessas ameaças – para que tenham as necessidades básicas atendidas, as vidas com significado e os propósitos realizados, o resultado será uma desigualdade ainda maior, entre pessoas, países e regiões do planeta –, algumas economias talvez sejam destruídas.
**O POSITIVO**
Em 1930, o economista John Maynard Keynes escreveu um ensaio intitulado “Possibilidades econômicas para os nossos netos”, em que previa 15 horas semanais de trabalho para as pessoas. Essa talvez seja a projeção mais otimista que encontramos, mas Donkin segue uma linha de raciocínio parecida. Ele acha que será possível talvez resgatar a sociedade dos gregos, voltada sobretudo ao aprendizado e ao lazer. Ela se sustentava com os escravos? Sim. Mas, agora, as máquinas são os escravos. Como na Grécia Antiga, os trabalhos criativos e comunitários voltarão a ser valorizados e teremos novamente sociedades em que as pessoas trabalham umas para as outras. E as empresas não explorarão ninguém? Donkin crê que, em duas gerações, a maioria das pessoas terá participação no capital das empresas para que trabalha e que a eficiência de uma pessoa será medida também em termos do bem-estar gerado.
Injetando números no otimismo, o Fórum Econômico Mundial, no relatório de 2018, estimou que, para 1 milhão de empregos eliminados, 1,75 milhão de novos empregos talvez sejam criados. E as grandes consultorias se juntam ao coro dos otimistas com mais dados. A Accenture, por exemplo, pondera que, se as empresas investirem em inteligência e na colaboração homem-máquina seguindo os níveis das cinco companhias com melhor desempenho hoje, elas poderão aumentar sua receita em 38% e melhorar os índices de emprego em 10% entre 2018 e 2022. Isso pode significar, para uma empresa listada no índice S&P 500, mais US$ 7,5 bilhões de receita e mais 5 mil vagas geradas – em apenas quatro anos.
Já a McKinsey diz que, com a inteligência artificial e a automação, ainda haverá trabalho suficiente para todo mundo, embora isso vá requerer transições de expertise e realocações geográficas. Para ela, só 5% das ocupações atuais têm 100% das atividades automatizáveis; e 6 em cada 10 têm 30% de atividades automatizáveis, o que é relativamente pouco. Assim, é possível que 400 milhões a 800 milhões de empregos sejam perdidos no mundo, mas haverá demanda nova para algo entre 755 milhões e 1,09 bilhão de vagas – somando as resultantes de mais investimentos em infraestrutura, energia e tecnologia, direcionados pelos governos, e a criação de 200 milhões de novos empregos não imaginados hoje. (Claro, a McKinsey conta com a capacidade de os governos darem esse direcionamento.)
Os otimistas não se preocupam tanto que as novas vagas excluam os menos preparados, argumentando que, hoje, um novo emprego de alta qualificação gera cinco novos empregos de baixa qualificação. O high tech alimenta o high touch e isso, segundo eles, deve continuar. E todas as pessoas poderão ser “pessoas aumentadas”, empoderadas pelas tecnologias.
**O PRESENTE**
Qual tem sido a resposta a esses futuros
no presente? Como pessoas e empresas estão se preparando? O futuro do trabalho dá trabalho, e esse esforço é o que os próximos textos abordam neste Dossiê.
Em linhas gerais, do lado positivo, vemos surgir cada vez mais das equipes autogeridas que o pai da administração moderna Peter Drucker tinha proposto nos anos 1950 em seu livro seminal Concept of Corporation. No aspecto negativo, talvez a vontade das pessoas de se reeducar não seja correspondida pelas empresas na mesma medida. Como mostra a pesquisa Accenture, 67% dos funcionários querem se alfabetizar em tecnologia, mas só 3% dos líderes estão dispostos em investir para treiná-los nisso.
Tanto para as empresas como para as pessoas, as consultorias têm uma série de bons conselhos sobre o que fazer no presente tendo o futuro do trabalho em vista [veja quadro na página à esquerda, com alguns highlights]. A Deloitte, no entanto, avisa que o gato subiu no telhado: nenhum dos atores do mercado – empresas, pessoas e instituições públicas – está se preparando devidamente no presente para lidar com a profunda ruptura social e econômica prestes a ser criada.

**A ANTROPOFAGIA**
E o Brasil? Vale a pena entender a visão de um estudioso do assunto, André Souza, fundador e CEO da consultoria Futuro S/A. Trata-se de um experiente executivo de gestão de talentos e desenvolvimento que começou a estudar o futuro do trabalho em 2006, criou um blog para canalizar seu aprendizado e agora fez do blog uma consultoria. Sua diversidade de experiências alimentou sua antropofagia – Banco Icatu, Nokia, Coca-Cola, Newell Brands e Monsanto/Bayer. Souza usa duas formas geométricas como representação visual de seu raciocínio, o círculo e o triângulo:
• O círculo ajuda a entender o que é preciso olhar nessa transição. Ele propõe que cada pessoa e cada empresa desenhe três círculos concêntricos. Do interno para o externo, o primeiro é o player em si (a pessoa ou a empresa), o segundo é o mercado para suas atividades presentes e o terceiro contém outros mercados e os sinais de mudança. Esse terceiro é o que traz as influências de fora para dentro, algo muito importante segundo o think tank Institute for the Future, pois traz o futuro a valor presente. É preciso saber analisar profundamente os três círculos para fazer as mudanças.
• O triângulo ajuda a definir o que fazer. Na base da pirâmide está o indivíduo ou a empresa, que deve exercitar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento; no topo, está a estratégia (da pessoa ou da empresa) para dali a dois ou três anos. Nas duas camadas intermediárias, de baixo para cima estão os processos e a transformação cultural que serão necessários para chegar até essa estratégia.
O que os brasileiros verão acontecer? Para Souza, o vínculo emocional das pessoas com as organizações será substituído por uma afinidade de aspirações em determinado momento. E o intervalo de performance pessoal no trabalho, que ocorria em ciclos de três a cinco anos, vai se encurtra para dois anos, o que converterá carreiras em colchas de retalhos.
Então, como agir? “A primeira coisa é investir no autoconhecimento”, diz Souza. Hoje as pessoas constroem sua carreira com base no primeiro emprego que conseguirem, e vão sendo promovidas sem pensar no que querem. “Agora, todos terão de pensar nas cinco coisas que mais valorizam em cada momento de vida e buscar isso. Se não, vão se sentir peixes em cima das árvores, explica. Todos os valores serão acolhidos, garante Souza. Exemplo: se o valor de alguém for estabilidade, haverá organizações inovadoras dispostas a contratar pessoas estáveis.
A segunda atitude requerida é o autodesenvolvimento. E o conselho de Souza nesse caso é estudar não linearmente, mas por domínios. “Experimentos educacionais na Finlândia e em Singapura nos mostram isso. Por exemplo, se você for estudar a época dos descobrimento do Brasil, deve entender todo o contexto de cultura, matemática, ciências da época, em vez de ficar estudando essas disciplinas de modo separado”, conta o especialista.
A sensação para alguns pode ser a de dar um tiro no escuro, mas as medidas são concretas. Por exemplo, as pessoas dizem não ter tempo no presente para esse preparo futurista. “É preciso obrigatoriamente criar esse tempo na rotina semanal. Que você deixe de ver três a cinco horas de Netflix por semana e redirecione para estudos e relacionamentos de aprendizado”, comenta. Souza mantém contato, por exemplo, com ex-colegas de todas as empresas em que trabalhou. “Eu nunca me despeço; no futuro do trabalho, será assim.”
E, por fim, o que as empresas podem fazer? Na visão de Souza, os departamentos de recursos humanos têm de ser os catalisadores da mudança ali. Os passos iniciais têm a ver com dizer não três vezes: (1) Dizer não à ideia de retenção de funcionários; na verdade, o desafio é só atrair profissionais que gostem de autonomia e sejam capazes de criar. (2) Não mais aceitar das áreas de negócios encomendas de treinamento tais como “habilidades de negociação, habilidades de apresentação, líder coach”. (3) Não se pautar mais pela cultura de minimizar os gaps das pessoas – não adianta tentar melhorar as habilidades de zagueiro do Neymar, é preciso criar as condições para ele fazer mais gols, que é o que ele faz melhor.
Para construir as mudanças e o futuro, um departamento de RH pode usar o círculo e o triângulo indicados por Souza. E o aprendizado dos gestores de RH será fundamental para o RH mudar as empresas.
E como as instituições governamentais brasileiras podem agir antropofagicamente? O governo, é consenso, constitui um ator realmente relevante em toda essa transição. Uma pesquisa do Pew Research Center questionou de quem seria a responsabilidade da preparação e, para a maior parte dos brasileiros (76%), seria do governo. Talvez governos precisem ser “disruptados” em todos os lugares do mundo, como sugere a EY.
Mundo afora, prefeituras já estão fazendo experimentos com renda mínima universal e há várias instâncias de governo estudando como fortalecer o terceiro setor para que atue na rede de proteção social ou como induzir as empresas a gerar jornadas de trabalho menores empregando mais gente. No Brasil, os governos não veem isso como algo urgente.
Mas aí a antropofagia pode nos ajudar novamente. Talvez seja hora de o Brasil explorar mais seu lado vira-lata, como sugere o economista Eduardo Giannetti, no livro O elogio de vira-lata e outros ensaios. Para ele, “o ethos do vira-lata é uma bem-vinda alternativa ao modelo ocidental puro-sangue”. De acordo com Giannetti, o padrão ocidental é o de privilegiar máxima produtividade, competência e sucesso, enquanto o brasileiro prioriza afetos, alegria, congraçamento. Isso, agora, nos tornaria mais capacitados a sonhar, descobrir e criar o novo mundo do trabalho.
Giannetti não está só nessa ideia. O filósofo Mario Sergio Cortella vê duas sabedorias do vira-latismo brasileiro que tendem a ser úteis na transição ao futuro do trabalho: o ócio recreativo e a diversidade. “Esse ócio é o tempo necessário para pensar e fazer escolhas, para as ideias virem e resultarem em inovação mais adiante”, diz. E diversidade constitui o verdadeiro “segredo da vida humana e do sucesso”, pois “viabiliza o confronto de ideias e a recombinação delas, o que, por sua vez, é o que gera riqueza – em todos os significados de riqueza”.
Na dúvida sobre se a máquina vai te substituir? Confira no site willrobotstakemyjob.com. Minha atividade, de editora, terá só 6% de substituição, por exemplo. Ufa! (risos).
Acima de tudo, “keep calm”, como dizem os ingleses. Não somos escorpiões que se suicidam só por não conseguirem evitar seguir sua natureza. Nós nos adaptamos, sobretudo no Brasil. Basta que pessoas e empresas entrem nas discussões essenciais do futuro do trabalho, como diz André Souza, em vez de continuar a perder tempo com temas periféricos
**O TERCEIRO ESPAÇO**, por Ricardo Cavallini
Como escolher sua profissão? Seja para os mais jovens ou os maduros, a resposta vive aparecendo nas redes sociais na forma de um diagrama de Venn. As famosas três bolinhas cuja intersecção apontam o que deveríamos levar em conta nesta tarefa. Basta escolher “no que você é bom”, “aquilo que te pagam” e “o que você ama fazer”.
Mas o que “mita” na timeline é, além de uma tarefa difícil, uma questão periférica. A escolha do que fazer deixou de ser tão importante. A questão fundamental é como desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar esse cenário em constante transformação, listadas pelas consultorias, a ONU e o Fórum Econômico Mundial.
Em minha opinião, talvez seja a hora de buscarmos um terceiro espaço para desenvolver essas habilidades – talvez a escola e o trabalho agora se encontram num espaço maker. Lá não se aprende só sobre tecnologia, como muitos pensam. Na verdade, lá mata-se a velha divisão binária entre humanas e exatas. É uma das melhores soluções para implementar as disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e também acrescentar o A de artes, tornando-as STEAM. Lá promove-se o trabalho em grupos multidisciplinares e, desse modo, ajuda a desenvolver habilidades sociais e um novo entendimento de colaboração (e de concorrência).
Acima de tudo, o espaço maker mostra que adquirir conhecimento é uma das coisas mais gostosas do mundo e que existe um milhão de maneiras de aprender. As pessoas foram levadas a acreditar que só existia um jeito – e bem tedioso, para a maioria.
Para quem quer entender o que é esse espaço, vale a pena acompanhar o reality Batalha Makers Brasil, do Discovery Channel, no qual participantes de 19 a 49 anos com as mais diversas formações acadêmicas e histórias de vida são provocados a misturar criatividade com tecnologia, a serem artistas e hackers.
As empresas líderes no mundo já entenderam que inovação deixou de ser exclusividade das equipes de pesquisa e desenvolvimento e, não à toa, várias implementam espaços maker internos para os funcionários – Google, Facebook, Microsoft, Airbus, Bosch, Chevron e Saint-Gobain são algumas – ou pagam assinaturas para eles em espaços independentes. E escolas seguem a mesma trilha.
Eu, pessoalmente me converti ao movimento convencido de que existem muitos benefícios em ser um maker. Para as pessoas, além de desenvolver novas habilidades específicas, poderá ser a faísca que faltava para que se tornem autodidatas, para que saibam aprender em rede e aprender fazendo. Para as empresas, especialmente as que não nasceram em uma garagem, será uma maneira de trazer a garagem para dentro.

Ricardo Cavallini, jurado do Batalha Makers Brasil, é fundador da Makers, empresa que ensina de crianças a gestores C-level sobre movimento maker, autor de seis livros que abordam tecnologia, negócios e comunicação e criador do Rute, o kit educacional eletrônico mais acessível do mundo.