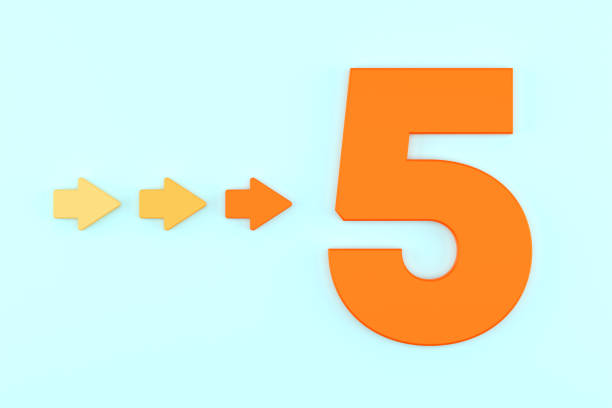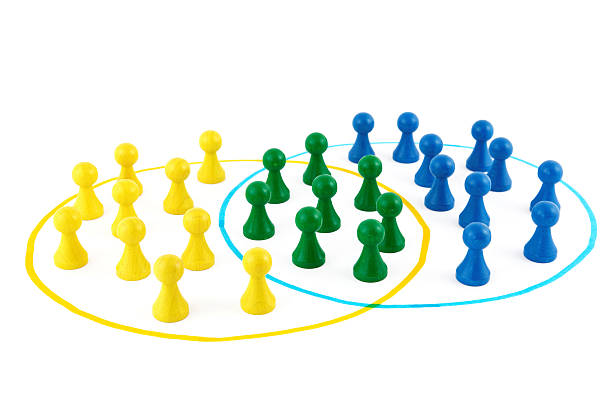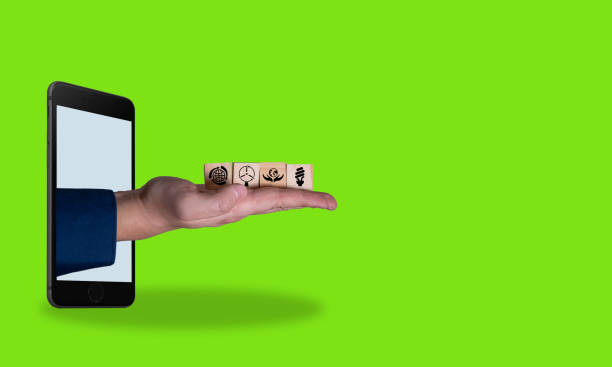Uma paralisia súbita em frente a uma banca de hot-dog. Tinha ido a uma festa, numa cidade do interior de São Paulo, e, quando desci do carro, sentei na calçada sem conseguir mexer um músculo do corpo. A certeza de que eu ia morrer a qualquer instante tomava conta de mim. Era o começo da síndrome do pânico. Eu tinha 17 anos e nunca havia ouvido falar sobre o assunto.
Nos dias seguintes, senti meu coração disparado, minha testa encharcada de suor e uma insegurança que me impedia de levar a vida de uma adolescente normal. Tinha medo de falar, de sair do quarto, de ficar sozinha e de qualquer pessoa que se aproximasse, por mais conhecida que fosse. Só deixava minha mãe chegar perto de mim. Eu a chamava para tudo, até para ir ao banheiro.
O tempo parecia congelado naquela atmosfera assustadora. Sentia-me cada vez mais isolada e triste. Naquela época, pensei em me matar. Cheguei a sentar no parapeito da janela do prédio onde eu morava. Ficava trancada no quarto o dia todo. E era lá que quase sempre também fazia minhas refeições.
Minha mãe, que era psicóloga, logo percebeu que a síndrome do pânico havia se somado a uma depressão – um mal que atinge 300 milhões de pessoas no mundo, e que em 2020 será a maior causa de afastamento no trabalho, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela batia na porta a toda hora tentando me convencer a sair um pouco. Mas, para mim, não existia mais o fora do quarto.
Até que um dia, quando ouvi sua voz, senti um terrível desespero: “Mari, abre a porta, por favor”. Abri uma frestinha e ela me disse uma frase que nunca mais esqueci: “Se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar”. Eu queria me ajudar. Mas eu não conseguia. Como eu podia querer me ajudar e querer me matar ao mesmo tempo?
Quantas vozes moravam dentro da minha cabeça? Uma dizia que havia saída, a outra só olhava para a janela. Quem era eu no meio das duas? Ao perceber que eu tinha dúvidas sobre quem era, percebi também que talvez eu pudesse ser diferente, que a vida podia ser diferente! Apeguei-me àquela esperança, àquela voz que me dava alternativa. Acabei dormindo e, no dia seguinte, permiti que minha mãe me levasse a um psiquiatra.
Comecei a tomar remédios, mas, naquela época, os efeitos colaterais eram pesados: engordei dez quilos em duas semanas e fiquei completamente apática. Eu apenas continuava existindo. Mas, aos poucos, fomos ajustando a medicação e, devagarzinho, o ânimo começou a reaparecer.
Além do psiquiatra, comecei a fazer terapia. E me lembro de três dicas da minha terapeuta: “cuide de sua alimentação como quem cuida da alimentação de um bebê. Ouça seu corpo e descubra do que ele precisa e, se puder, prepare sua própria comida”. A segunda dica foi tentar dormir bem. No começo, também tomei remédio para isso. E a terceira: voltar a praticar atividades físicas.
Naquele momento, minha terapeuta estava me apresentando os pilares fundamentais da minha saúde. Mas talvez eu só tenha conseguido enxergar isso aos 17 anos pelo fato de ter conhecido uma dor, uma angústia e uma tristeza muito profundas. Foi por isso que levei aquilo tudo muito a sério!
Depois de um ano, parei de tomar os remédios e fui voltando a ser a Mari de sempre. Mas sabia que a depressão era um monstro que ainda me rondava. E sabia também que não queria nunca mais encontrar com ele. Minhas amigas estranhavam o fato de eu sempre recusar convites para pizzas, churrascos e cervejadas. Elas achavam que eu tinha muita força de vontade para manter a dieta. Mas a verdade é que eu abria mão das companhias que eu tanto amava por medo de voltar ao parapeito da janela.
Assim, mantinha disciplina ferrenha na alimentação, na academia e com as horas de sono! Tudo isso bem antes de eu ser convidada para falar sobre saúde na TV. Muita gente me perguntava o que eu aprendi com o Bem Estar, achando que o programa tinha mudado minha rotina, mas pouca gente que me assistia sabe que o que mudou minha vida foi o medo de morrer.
Lembrando dessa história hoje, me pergunto o que eu gostaria que alguém tivesse me dito na época sobre depressão. E acho que o que mais me fez falta foi saber que eu não estava sozinha, que outros adolescentes também enfrentavam o problema. Não foram poucas as vezes que me senti um ET. O isolamento provocado pela própria doença ficava ainda maior diante da falta de informação e por eu não conhecer ninguém da minha idade que também tivesse passado por aquilo.
Olhando a situação sob essa perspectiva, acho ainda mais curioso eu ter “caído” por acaso no jornalismo de saúde. Quando me convidaram para fazer o piloto (uma espécie de programa teste) do Bem Estar, eu não queria. A temporada seguinte do Globo Mar estava prestes a começar e eu havia me apaixonado pelo programa, assim como também havia me apaixonado pelo Fantástico, para o qual estava fazendo reportagens. Eu sabia que, se não fosse aprovada para o Bem Estar, continuaria apresentando o Globo Mar com Ernesto Paglia e, entre uma gravação e outra, seguiria com as reportagens no Fantástico. Mas fui aprovada como apresentadora no Bem Estar e lá passei os últimos oito anos da minha vida – antes de pedir demissão no dia 10 de março de 2019.
Nesse tempo todo, dei algumas entrevistas em que mencionei a depressão. Na primeira vez, uma enxurrada de comentários nas redes sociais me deixou preocupada com a falta de informação. Muita gente me mandou mensagens agressivas, do tipo: “vai lavar um pouco de roupa que passa”, “tem gente que reclama de barriga cheia, queria ver se tivesse que pegar duas conduções por dia”.
Essa foi uma das razões pelas quais decidi que falaria sobre o assunto quando me convidaram para o TEDx São Paulo (parte do que eu conto aqui, está em vídeo no YouTube): saúde mental ainda é um tabu. Por mais que a gente saiba que 11 milhões de brasileiros sofrem com depressão e que somos campeões mundiais de ansiedade, nós ainda não falamos o suficiente sobre o assunto. Enxerguei no TEDx mais uma oportunidade de mostrar para as pessoas que até quem aparentemente não tem problemas também pode estar sofrendo.
Quando voltei da minha primeira licença-maternidade, tive que ir ao camarim algumas vezes para retocar a maquiagem. Estava enfrentando meu segundo episódio de depressão. Eu já havia lido que era normal sentir um pouco de tristeza no pós-parto: o famoso “baby blues” atinge entre 70% e 80% das mulheres, segundo a American Pregnancy Association. Mas eu não sabia quanto tempo aquilo podia durar.
Minha tristeza começou na sala de cirurgia. Eu sonhava com um parto normal. Mas minha bolsa estourou em casa e cheguei ao hospital com poucos centímetros de dilatação, por volta de uma da madrugada. O obstetra falou comigo ao telefone e disse que chegaria por volta das
7 horas da manhã. Achei estranho demorar tanto, mas pensei que ele deveria saber o que estava fazendo; afinal de contas, era meu ginecologista há um bom tempo.
Perto do horário combinado, ele me ligou na sala de pré-parto. Eu contei que havia feito mais um exame para saber como estava minha dilatação e que pouca coisa tinha mudado. Ele me pareceu bravo ao telefone e perguntou por que eu havia deixado a enfermeira fazer outro exame de toque com a bolsa rompida: “Você não sabe que isso aumenta o risco de infecção?”. Não, eu não sabia. Naquele momento, me senti desamparada, despreparada. O médico chegou 40 minutos depois querendo operar o mais rápido possível. Mas todas as salas de cirurgia estavam ocupadas. A cesárea só aconteceu depois do meio-dia, sem nenhuma tentativa de indução do parto normal.
Três dias depois, ao levantar do sofá da minha casa com o Miguel no colo, senti um repuxado no local da cesárea. O corte abriu. A dor era terrível. Voltei ao consultório médico para um novo curativo, mas me lembro de ter sentido dor por três meses. Eu ainda não conhecia os estudos que mostram que sentir dor aumenta os riscos de depressão no pós-parto e que comprovam que uma experiência emocionalmente ruim no parto também aumenta as chances. Mas acho que não foi “apenas” por isso que fiquei deprimida de novo. O fato de já ter tido um episódio prévio de depressão com certeza contribuiu.
Eu me sentia distante do mundo, nula, burra, feia. Ficava de pijama a maior parte do tempo, com aquelas cintas de compressão que incomodam bastante. Durante a licença-maternidade, minha dose diária de angústia era assistir à minha substituta na TV dentro da minha própria sala. Eu achava que ela era mais inteligente, mais bonita, que tinha mais conexão com meu parceiro de apresentação. Eu checava as redes sociais e, claro, me focava nos comentários ruins, que concordavam comigo.
E dessa vez eu não tinha mais a minha mãe para me convencer a ir ao psiquiatra: ela faleceu vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando eu tinha 20 anos. Mas, para mim, minha mãe morreu de novo quando meu filho nasceu. O nascimento do Miguel renovou meu luto: uma coisa é não ter mãe; outra coisa é se tornar mãe sem ter mãe. Do mesmo jeito que, aos 17 anos, durante a síndrome do pânico, eu só confiava nela para ficar perto de mim, naquela fase tudo que eu queria era que minha mãe estivesse ao meu lado.
Acabei demorando muito para perceber que estava deprimida. Não procurei ajuda porque achei que não precisava: como eu poderia estar deprimida se tinha em meu colo a nova razão da minha existência? Sentia culpa por estar triste e não tinha coragem de dizer para ninguém que, às vezes, aparecia na minha cabeça uma vontade de nunca ter engravidado.
Quando voltei ao trabalho, aos poucos, fui retomando minha rotina de atividade física e a situação melhorou bem quando eliminei a mamada da madrugada e consegui dormir uma noite inteira. Mas teve algo que foi fundamental: voltar a meditar!
Comecei a meditar quando eu tinha 12 anos. Eu era amiga do dono de um sebo, e um dia ele me deu um livro de presente e me disse assim: “Este livro é a sua cara!”. O livro se chamava Visualização criativa, de Shakti Gawain.
Fui para casa e comecei a ler. O livro propunha alguns exercícios. Coloquei um CD da Enya no meu microsystem e só percebi que eu tinha ficado fazendo o exercício por quase uma hora quando o CD acabou. Eu tinha acabado de meditar por acaso. No dia seguinte tentei repetir a dose, mas com o tempo fui aprendendo que a meditação profunda é incompatível com essa nossa vontade de controlar o mundo. Na verdade, a meditação requer entrega e não controle.
Hoje a ciência já sabe que meditação reduz o estresse e a pressão arterial – dois fatores de risco importantes para AVC, como o que matou minha mãe. Também já há estudos mostrando que a meditação é tão eficaz quanto medicação para prevenir recaídas de depressão, mas sem efeitos colaterais. Hoje – para mim – mais do que fazer parte da minha dose diária de saúde, a meditação é um lembrete para viver uma vida mais conectada à minha essência.
E a minha essência gosta de liberdade, de autonomia, de se cuidar e, especialmente, de cuidar dos outros! Foi por isso que eu saí da Globo para fundar a Soul.Me – uma well-tech de impacto social. Nosso foco é a produção de conteúdo digital para gerar engajamento na mudança de hábitos e na construção de saúde e bem-estar. Meu sonho é que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei para começar a se cuidar.
A Soul.Me tem sido chamada por muitas empresas que querem começar a falar sobre saúde mental para seus colaboradores. De acordo com a OMS, 23 milhões de brasileiros estão sofrendo com transtornos mentais – o que equivale a 12% da população. No mundo, o impacto econômico desse problema já é de 1 trilhão de dólares por ano! Porém, mais do que dinheiro, estamos falando de gente. Gente que está sofrendo e que precisa de apoio. Famílias que estão sofrendo e que precisam se sentir acolhidas, precisam saber o que fazer.
Costumo dizer que, em se tratando de saúde, a única coisa que você não pode deixar de fazer por você é aquilo que só você pode fazer por você! Mas acrescento: faça também pelos outros e com os outros! Porque não há nada que garanta mais bem-estar e felicidade em longo prazo do que ter vínculos fortes, relacionamentos. Isso é o que os estudos mostram. E essa ferramenta mágica de longevidade com qualidade de vida pode começar a ser construída com um simples bom-dia no ambiente de trabalho.